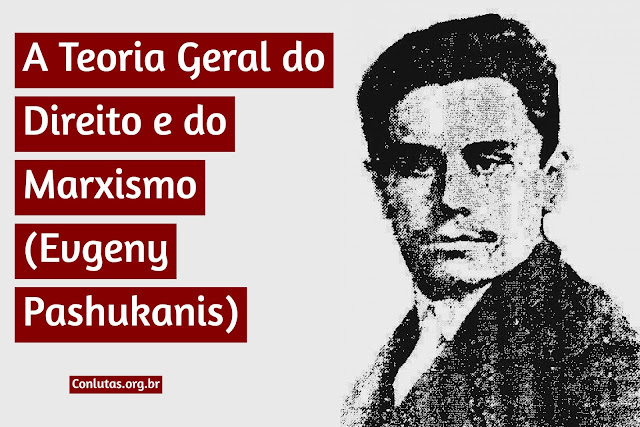Nota introdutória
O lugar de Pashukanis na história da filosofia e da prática jurídica está seguro principalmente devido ao seu tratado A Teoria Geral do Direito e do Marxismo. Este pequeno livro, publicado pela primeira vez em 1924, já foi traduzido para vários idiomas ocidentais e orientais, mas a tradução inglesa da primeira edição aparece pela primeira vez abaixo.
Quando a Teoria Geral apareceu pela primeira vez, é duvidoso que alguém, menos do próprio Pashukanis, pudesse ter previsto seu sucesso imediato e a ascensão meteórica de seu autor dentro da filosofia jurídica marxista e da profissão jurídica soviética. Pashukanis foi apenas um de uma dúzia de autores na União Soviética a publicar sobre a teoria marxista do direito e do Estado durante os anos de 1923 a 1925. Na verdade, ele foi um dos autores menos conhecidos cujas obras apareceram durante este florescimento precoce da filosofia jurídica soviética. Era um campo lotado e distinto que incluía o filósofo marxista Adoratsky; o aluno de Petrazhitsky, M.A. Reisner; o jurista e herói da guerra civil Nikolai Krylenko; e, é claro, Piotr Stuchka, um velho bolchevique e o fundador russo soviético da filosofia jurídica marxista. No entanto, a Teoria Geral de Pashukanis foi banqueteada pelos revisores e rapidamente saiu em sucessivas edições que incluíram várias impressões. Poucos outros autores neste período tiveram seus livros reimpressos, e muito menos publicados em uma nova edição.
Ninguém foi mais elogiado pelos jovens Pashukanis do que Stuchka. Stuchka havia sido pioneiro na crítica pós-marxista à jurisprudência burguesa, postulando que a lei é um conceito de classe com base empírica nas inter-relações de materiais sociais. Com a publicação da crítica de Pashukanis à prudência burguesa, Pashukanis o reconheceu como um companheiro de luta na “revolução da teoria do direito”. Os elogios de Stuchka impulsionaram Pashukanis da obscuridade acadêmica para a vanguarda da “revolução do direito”. Stuchka admitiu prontamente que a teoria da troca de mercadorias de Pashukanis complementou e, em geral, substituiu sua própria “doutrina geral de direito incompleta e muito inadequada”.
No entanto, na primeira edição da Teoria Geral, Pashukanis criticou a definição de direito de Stuchka, argumentando que o efeito da perspectiva de Stuchka era que as relações jurídicas eram indistinguíveis das relações sociais em geral. Na segunda edição da Teoria Geral, publicada em 1926, Pashukanis reiterou esta crítica, insistindo que “os elementos que principalmente fornecem o material para o desenvolvimento da forma jurídica podem e devem ser segregados do sistema de relações que respondem à classe dominante …”.
Pashukanis havia resolvido o problema da definição de Stuchka especificando que o fato da equivalência, baseada na troca de mercadorias, era a característica distintiva da relação jurídica e que era esta que distinguia a lei de todas as outras relações sociais. A segunda edição da Teoria Geral foi recebida com uma recepção igualmente positiva. Um crítico do jornal Izvestiia, em particular, creditou Pashukanis com a perfeição da definição inicial de Stuchka. O revisor da segunda edição de Pravda também subscreveu essencialmente a teoria de Pashukanis. Estas revisões favoráveis, entre outras, foram particularmente importantes, além disso, porque apareceram na imprensa política e, portanto, implicitamente significaram a aprovação formal e autorizada da teoria de Pashukanis.
A segunda edição da Teoria Geral apareceu em um formato mais atraente, refletindo o novo prestígio que o autor e seu livro haviam adquirido. Esta foi uma edição corrigida e complementada que implicou em elevar algum material das notas de rodapé para o texto, e que geralmente esclareceu algumas partes do texto através de breves emendas. Por exemplo, sobre o estado – um tema subdesenvolvido na primeira edição – foi acrescentado Pashukanis:
Mesmo que a relação jurídica possa ser concebida em termos de pura teoria como o reverso da relação de intercâmbio, sua realização prática requer, no entanto, a presença de padrões gerais mais ou menos firmemente estabelecidos, a formulação elaborada de regras como aplicadas a casos particulares e, finalmente, uma organização especial [o Estado] que aplicaria esses padrões a casos individuais e garantiria que a execução das decisões seria compelida.
Em outra parte da segunda edição, Pashukanis refinou e afiou suas declarações sobre a relação entre direito e feudalismo declarando, por exemplo, “a explicação da contradição entre propriedade feudal e propriedade burguesa deve ser buscada em suas diferentes relações de troca”. A terceira edição da Teoria Geral apareceu em 1927. Ela implicou apenas mudanças marginais da segunda edição revista, e serviu de base para a primeira tradução para o inglês da Teoria Geral de Pashukanis. [1*]
A terceira edição da Teoria Geral abrangeu posteriormente várias gravuras e, eventualmente, traduções estrangeiras, onde seu autor e sua teoria do direito de troca de mercadorias entraram e adquiriram seu lugar na história da filosofia jurídica.
CAPÍTULO I: Métodos de Construção do Concreto nas Ciências Abstratas
Toda ciência generalizadora, ao estudar seu assunto, se volta para uma mesma e mesma realidade. Uma observação, por exemplo, a observação do movimento dos corpos celestes através do meridiano, pode fornecer conclusões tanto para a astronomia quanto para a psicologia. E um fato, o aluguel do solo, por exemplo, pode ser objeto de economia política ou de direito. A diferença entre várias ciências depende, portanto, essencialmente de suas respectivas abordagens metodológicas e ontológicas. Cada ciência tem seu método particular, e por este método procura reproduzir a realidade. Além disso, cada ciência constrói uma realidade concreta com toda sua riqueza de formas, relações e dependências, como resultado da combinação dos elementos mais simples e abstrações. A psicologia procura reduzir a consciência a seus elementos mais simples. A química resolve a mesma tarefa no que diz respeito às substâncias. Quando na realidade não podemos reduzir a realidade a elementos mais simples, as abstrações vêm em nosso auxílio. O papel das abstrações é extremamente importante nas ciências sociais. Quanto maior ou menor a perfeição da abstração é determinada pela maturidade de uma determinada ciência social. Marx explica isso de forma brilhante com o exemplo da ciência econômica.
Parece inteiramente natural, diz Marx, começar a pesquisa com a totalidade concreta, com a população vivendo e produzindo em condições geográficas específicas; mas esta população é apenas uma abstração vazia sem as classes que a constituem; por sua vez, estas últimas não são nada sem as condições de sua existência, condições que são salários, lucro e aluguel. A análise destas assume as categorias mais simples de preço, valor e, finalmente, de mercadorias. Partindo destas definições mais simples, o economista político reconstrói a totalidade concreta não como um todo caótico e difuso, mas como uma unidade repleta de dependências e relações internas. Marx acrescenta, além disso, que o desenvolvimento histórico da ciência regrediu; os economistas do século XVII começaram com o concreto – com a nação, o estado e a população – para chegar ao aluguel, ao lucro, ao salário, ao preço e ao valor. Entretanto, o que era historicamente inevitável não é, de forma alguma, metodologicamente correto. [11]
Estas observações são as mais aplicáveis à teoria geral do direito. Também neste caso, a totalidade concreta da sociedade, da população e do Estado, deve ser o resultado e a etapa final de nossas conclusões, mas não seu ponto de partida. Pois ao passar do simples para o mais complexo, de um processo em forma pura para suas formas mais concretas, podemos seguir um caminho metodologicamente bem definido – e portanto mais correto – do que quando nos movemos hesitantemente apenas com a forma difusa e não dissecada do todo concreto que temos diante de nós.
A segunda observação metodológica, que deve ser feita aqui, diz respeito a uma peculiaridade das ciências sociais. Mais corretamente, ela diz respeito aos seus conceitos. Se tomarmos alguns conceitos das ciências naturais, por exemplo, o conceito de energia, é claro que podemos estabelecer exatamente o momento cronológico em que ele surgiu. Entretanto, esta data é significativa apenas para a história da ciência e da cultura. Na pesquisa em ciências naturais, como tal, a aplicação deste conceito não está associada a limites temporais. A lei da transformação da energia estava em vigor antes do aparecimento do Homem e continuará após a cessação de toda a vida na Terra. Ela é extra-temporal; é uma lei eterna. É possível perguntar quando foi descoberta a lei da transformação da energia, mas é inútil se preocupar com a questão de estabelecer o momento em que estas relações foram refletidas naquela lei.
Passemos agora às ciências sociais, ou apenas à economia política, e tomemos um de seus conceitos básicos, como o valor. A história real do valor é ao mesmo tempo evidente – historicamente, tanto no conceito como um componente de nosso pensamento, como também na história do conceito, pois ele constitui parte da história da teoria econômica. O desenvolvimento das relações sociais, portanto, transforma gradualmente este conceito em realidade histórica. Sabemos exatamente quais relações materiais foram necessárias para que a qualidade “Ideal”, “imaginária” do objeto assumisse um significado “real” e, portanto, decisivo. Em comparação com as qualidades naturais que transformam o produto do trabalho de um fenômeno natural em um fenômeno social, conhecemos assim o verdadeiro substrato histórico de nossas abstrações cognitivas. Ao mesmo tempo, estamos convencidos de que os limites dentro dos quais a aplicação desta abstração faz sentido, correspondem aos limites do desenvolvimento real da história e são determinados por ela. Outro exemplo, apresentado por Marx, mostra isso com mais clareza. O trabalho, como a mais simples relação do homem com a natureza, é encontrado em todos os estágios de desenvolvimento, mas como uma abstração econômica parece relativamente tardia (compare a sucessão de escolas: mercantilista, fisiocrata, clássica). Mas o desenvolvimento do conceito correspondeu ao desenvolvimento real das relações econômicas, ofuscando a distinção entre os diferentes tipos de trabalho humano e substituindo o trabalho em geral por ele. Assim, o desenvolvimento conceitual corresponde à verdadeira dialética do processo histórico. [12] Tomemos outro exemplo, externo à economia política – o Estado. Aqui podemos observar tanto como o conceito de Estado obtém gradualmente o rigor e a finalidade da definição, desenvolvendo todo o alcance de suas definições, como também como na realidade o Estado se desenvolve e como é “abstraído” do patrimônio e do feudalismo, e como se converte em uma força auto-suficiente que “penetra em todos os interstícios sociais”.
Assim, mesmo a lei, mais geralmente definida, existe como uma forma não apenas nas mentes e teorias de juristas eruditos. Ela é paralela a uma história real que se desdobra não como um sistema de pensamento, mas como um sistema especial de relações sociais. As pessoas entram nestas relações não porque escolheram conscientemente fazê-lo, mas porque as condições de produção assim o exigem. O homem é transformado em sujeito legal da mesma forma que um produto natural é transformado em uma mercadoria com sua misteriosa qualidade de valor.
Esta é uma necessidade natural que se limita à estrutura das condições burguesas de existência. Portanto, a doutrina do direito natural, consciente ou inconscientemente, está na base das teorias burguesas do direito. A faculdade de direito natural não foi apenas a expressão mais clara da ideologia burguesa no período em que a burguesia, agindo como uma classe revolucionária, formulou suas exigências de forma aberta e consistente; ela também forneceu um modelo para a compreensão mais profunda e distinta da forma jurídica. Não é por acaso que a influência florescente da doutrina do direito natural coincidiu estreitamente com o aparecimento dos grandes escritos clássicos da economia política burguesa. Ambas as escolas se propuseram a formular, na forma mais geral e, portanto, mais abstrata, as condições básicas de existência da sociedade burguesa. A sociedade burguesa apareceu-lhes como a condição natural de existência de todas as sociedades.
Em vez de nos debruçarmos mais detalhadamente sobre as mudanças nas escolas de filosofia jurídica, podemos notar alguns paralelos evolutivos entre o pensamento jurídico e econômico. Assim, sua direção histórica pode, em ambos os casos, ser considerada como um fenômeno da aristocracia feudal, e em parte também da reação pequeno-burguesa. Quando seu ardor revolucionário foi finalmente dissipado na segunda metade do século XIX, a burguesia deixou de ser atraída pela pureza e clareza das doutrinas clássicas. A sociedade burguesa buscava agora estabilidade e forte autoridade. O foco central da teoria jurídica não se tornou a análise da forma jurídica, mas o problema de justificar o poder coercitivo das regras jurídicas. Foi criada uma mistura única de historicismo e positivismo legal que levou à negação de toda lei que não fosse a lei emanada do Estado.
A escola psicológica de direito pode ser categorizada juntamente com a escola psicológica de economia política. Ambas tentam transferir o objeto de análise para o reino das condições subjetivas da consciência (“avaliações”, “emoção imperativa-atributiva”), deixando de ver que as categorias abstratas correspondentes expressam relações sociais na regularidade de sua estrutura lógica, relações sociais que são ocultas dos indivíduos e que se estendem além dos limites de sua consciência.
Finalmente, o formalismo extremo da escola normativa (Kelsen) expressa sem dúvida a mais recente decadência geral do pensamento científico burguês. Isto é conseguido pelo seu esgotamento nas sutilezas infrutíferas do método e da lógica formal, e pela tendência a se divorciar da realidade. Na teoria econômica, uma posição semelhante é ocupada por representantes da escola de matemática.
A relação jurídica é, na frase de Marx, uma relação abstrata e unilateral; mas nisto ela aparece não como resultado do produto da mente de um sujeito consciente, mas como o produto do desenvolvimento social.
“Em qualquer ciência histórica e social, e também no desenvolvimento de categorias econômicas, é sempre necessário lembrar que na realidade, e portanto na mente, o sujeito já é dado – aqui, a sociedade burguesa”. As categorias, portanto, expressam apenas as formas de ser e as características da existência – muitas vezes apenas de aspectos individuais desta sociedade específica, deste assunto”. [13]
O que Marx diz aqui sobre as categorias econômicas é totalmente aplicável às categorias legais. Estas últimas, em sua falsa universalidade, de fato expressam aspectos particulares de um assunto histórico específico – da produção burguesa de mercadorias.
Na mesma Introdução, que temos citado repetidamente, encontramos ainda outra profunda observação metodológica de Marx. Trata-se da possibilidade de esclarecer o significado das formações precedentes em termos da análise das formações subsequentes e mais desenvolvidas. Marx explica que somente tendo entendido o aluguel podemos entender a homenagem, o dízimo e o corvée feudal. A forma mais desenvolvida explica as etapas anteriores nas quais ela existia apenas embrionariamente. A evolução, por assim dizer, revela aquelas intimações que estavam ocultas num passado distante.
A sociedade burguesa é a mais desenvolvida e aperfeiçoada organização histórica da produção. As categorias que refletem suas relações e suas organizações, permitem simultaneamente a compreensão da estrutura das relações de produção de todas as formas sociais obsoletas – de cujos fragmentos e elementos esta sociedade é erguida, em parte continuando a suportar seu legado, que não conseguiu superar, e em parte articulando, o que formalmente estava lá apenas por implicação. [14]
Aplicando a consideração metodológica acima mencionada à teoria do direito, devemos começar com a análise da forma jurídica em seu aspecto mais abstrato e simples, passando gradualmente, por meio da complexidade, ao historicamente concreto. Ao fazê-lo, não devemos esquecer que o desenvolvimento dialético dos conceitos corresponde ao desenvolvimento dialético do próprio processo histórico A evolução histórica produz não apenas mudanças sucessivas no conteúdo das normas e instituições jurídicas, mas também o desenvolvimento da própria forma jurídica A forma jurídica surgiu em um certo nível cultural em um longo estágio embrionário, internamente desestruturado e dificilmente distinguível das esferas vizinhas, por exemplo, os costumes, a religião. Em seguida, desenvolvendo-se gradualmente, atinge a maturidade máxima, diferenciação e precisão. Este estágio mais elevado de desenvolvimento corresponde a relações econômicas e sociais específicas. Ao mesmo tempo, este estágio é caracterizado pelo aparecimento de um sistema de conceitos gerais que teoricamente reflete o sistema jurídico como um todo distinto.
Assim, só podemos alcançar uma definição clara e exaustiva se basearmos nossa análise na forma jurídica de direito plenamente desenvolvida que interpreta suas formas antecedentes como seus embriões.
Somente então poderemos perceber o direito, não como uma característica da sociedade humana abstrata, mas como uma categoria histórica que responde a ambientes sociais específicos e que é construída sobre as contradições de interesses privados.
CAPÍTULO II: Ideologia e Direito
Na recente polêmica entre o camarada Stuchka e o professor Reisner, um papel importante foi desempenhado pela questão da natureza ideológica do direito. [1*] Contando com uma bela coleção de citações, Reisner tentou mostrar que Marx e Engels consideravam o direito como uma das “formas ideológicas”, e que a mesma visão era defendida por muitos outros teóricos marxistas. É claro que não é necessário contestar estas declarações e citações. Da mesma forma, é impossível negar o fato de que o direito é experimentado pelas pessoas de forma psicológica, em particular na forma de princípios gerais de regras ou normas. Entretanto, a tarefa não é de forma alguma reconhecer ou negar a existência da ideologia legal (ou psicologia), mas sim mostrar que as categorias legais não têm outro significado que não seja o ideológico. Somente neste último caso reconhecemos a conclusão de Reisner como “necessária”, ou seja, “que um marxista só pode estudar o direito como um dos subtipos da ideologia do tipo geral”. Nesta pequena palavra “somente” está toda a essência da questão. Vamos explicar isto com um exemplo de economia política. As categorias de mercadoria, valor e valor de troca são sem dúvida distorções ideologicamente produzidas, formas de idéias mistificadoras (na expressão de Marx), nas quais a sociedade de troca imagina um vínculo de trabalho entre produtores individuais. A natureza ideológica dessas formas é comprovada pelo fato de que, se formos a outras estruturas econômicas, as categorias (de mercadoria, valor, etc.) perdem todo o significado. Portanto, com completa justificação, podemos falar de uma ideologia de mercadoria, ou como Marx a chamou, um “fetichismo de mercadoria” e categorizá-la na lista de fenômenos psicológicos. Isto de forma alguma significa que as categorias da economia política têm significado exclusivamente psicológico, que se relacionam apenas a experiências, impressões e outros processos subjetivos. Sabemos muito bem que, por exemplo, a categoria de mercadoria, apesar de sua clara natureza ideológica, reflete uma relação social objetiva. Sabemos que qualquer que seja o grau de desenvolvimento desta relação, sua maior ou menor universalidade, são fatores materiais sujeitos a investigação como tal, e que ela existe não apenas na forma de processos ideológico-psicológicos. Assim, os conceitos gerais de economia política não são apenas um elemento de ideologia, mas são também um tipo de abstração, da qual podemos, cientificamente, ou seja, teoricamente, construir uma realidade econômica objetiva. Nas palavras de Marx: “Estas são formas de pensamento socialmente significativas, e portanto objetivas, dentro dos limites das relações produtivas de uma forma de produção específica, historicamente determinada, social – a produção de mercadorias”. [15]
Devemos, portanto, demonstrar que tanto os conceitos jurídicos gerais podem entrar e realmente entrar na estrutura dos processos ideológicos e sistemas ideológicos – isto não está sujeito a nenhuma disputa – quanto que neles, nestes conceitos, é possível descobrir a realidade social que, de certa forma, se tornou mistificada. Em outras palavras, devemos determinar se as categorias legais são ou não tais formas objetivas de pensamento (objetivo para uma sociedade historicamente específica) que correspondem a relações sociais objetivas. Consequentemente, nossa pergunta é: é possível entender o direito como uma relação social no mesmo sentido em que Marx denominou o capital como uma relação social?
Tal afirmação da questão antecipa a referência à natureza ideológica da lei, e toda nossa consideração é transferida para um nível totalmente diferente.
O reconhecimento da natureza ideológica dos conceitos de forma alguma nos liberta do trabalho de buscar a realidade objetivamente existente, ou seja, na realidade do mundo externo, e não simplesmente na consciência. No caso contrário, seríamos obrigados a apagar qualquer fronteira entre o mundo além do túmulo – que também existe nas concepções de algumas pessoas – e, digamos, o estado. O professor Reisner, aliás, faz exatamente isso. Confiando na conhecida citação de Engels a respeito do estado como a “força ideológica primária”, dominando as pessoas, Reisner rapidamente equaciona o estado com a ideologia do estado. “A natureza psicológica do fenômeno da autoridade é tão óbvia, e a própria autoridade estatal – existente apenas na psique das pessoas (nosso itálico, E.P.) – é tão desprovida de características materiais, que parece que ninguém considera a autoridade estatal de nenhuma outra forma que não seja como uma idéia. Ela só é real na medida em que as pessoas fazem dela um princípio de sua ação”. [16] Isto significa que as finanças, os militares e a administração, são todos inteiramente “privados de características materiais”, que tudo isso existe “somente na psique do povo”. E o que pode ser feito, nas palavras do próprio professor Reisner com aquela “imensa” massa da população que vive “fora da consciência do estado”? Obviamente, deve ser excluída. Estas massas não têm nenhum significado para o “verdadeiro” estado existente.
E quanto ao estado sob a perspectiva da unidade econômica? Ou os costumes ou os limites dos costumes, estes também são processos ideológicos e psicológicos? Muitas dessas questões podem ser colocadas, mas todas com o mesmo significado. O estado é uma forma ideológica, mas simultaneamente é uma forma de existência social. A natureza ideológica de um conceito não elimina a realidade e a materialidade que o conceito reflete.
A completude formal dos conceitos de estado, território, população e autoridade, reflete não apenas uma ideologia específica, mas também o fato objetivo da formação de uma esfera real de dominação, vinculada a um centro, e, portanto, ainda mais importante, reflete a criação de verdadeiras organizações administrativas, financeiras e militares com aparatos humanos e materiais correspondentes. O Estado nada é sem métodos de comunicação, sem a possibilidade de dar ordens e decretos, de movimentar forças armadas, etc. O professor Reisner pensa que as estradas militares romanas, ou os modernos métodos de comunicação, estão relacionados a fenômenos da psique humana? Ou ele supõe que estes elementos materiais devem ser totalmente ignorados como um fator na formação do Estado? Então, é claro que nada mais restará para nós a não ser equacionar a realidade do estado com a realidade da “literatura, filosofia e outras produções espirituais do homem”. É lamentável que a prática da luta política, da luta pela autoridade, contradiga radicalmente este conceito psicológico do Estado, pois a cada passo somos confrontados por fatores objetivos e materiais.
Entretanto, não se pode deixar de observar que um resultado inevitável da perspectiva psicológica (da qual depende o Professor Reisner) é o subjetivismo e o solipsismo. “Como a criação de tantas psicologias quanto existem indivíduos, e de tantos tipos diferentes quanto existem grupos e classes sociais, a autoridade estatal aparecerá inerentemente diferente na consciência e na conduta de um ministro de gabinete e na de um camponês que ainda não contemplou a idéia de um estado; na psique de um ativista político e nos princípios de um anarquista – em uma palavra na consciência de pessoas com posições sociais muito diferentes, atividade profissional, educação, etc.”. [17] A partir disto, é claramente óbvio que se permanecermos em nível psicológico, simplesmente perdemos todas as bases para falar do estado como alguma unidade objetiva. Somente considerando o Estado como uma verdadeira organização de autoridade de classe, ou seja, levando em conta todos os elementos (incluindo não apenas psicológicos, mas materiais), e este último, em primeiro lugar, obtemos terreno firme sob nossos pés, ou seja, podemos estudar o próprio Estado como ele é na realidade, e não apenas as inúmeras e variadas formas subjetivas nas quais ele é refletido e experimentado.
Mas se definições abstratas da forma jurídica indicam não apenas certos processos psicológicos ou ideológicos, mas se são conceitos que expressam a própria essência de uma relação social objetiva, em que sentido dizemos que a lei – regula as relações sociais? Não queremos dizer com isto que as relações sociais, portanto, se regulam a si mesmas? Ou quando dizemos que uma relação social assume uma forma jurídica, então isso não implica uma simples tautologia: o direito adota a forma do direito? [18]
À primeira vista, esta objeção é muito convincente e parece não deixar outra alternativa senão reconhecer a lei como ideologia e somente ideologia. Tentemos, no entanto, desenterrar estas dificuldades. A fim de aliviar nossa tarefa, vamos recorrer novamente à comparação. A economia política marxista ensina, é claro, que o capital é uma relação social. Pode não ser, como diz Marx, descoberto sob um microscópio, mas de forma alguma é esgotado por experiências, ideologias e outros processos subjetivos que ocorrem na psique humana. Trata-se de uma relação social objetiva. Além disso, quando observamos, por exemplo, na esfera da produção em pequena escala, a transição gradual de trabalhar para um cliente para trabalhar para um monopolista, postulamos que as relações correspondentes assumiram uma forma capitalista. Isto significa que caímos em uma tautologia?
De forma alguma; nós apenas dissemos que a relação social que se chama capital começou a colorir ou deu sua forma a outra relação social. Assim, podemos considerar tudo o que ocorreu puramente objetivamente, como um processo material, eliminando completamente a psicologia ou ideologia de seus participantes. Isto não pode ser feito exatamente da mesma forma com a lei? Sendo ela mesma uma relação social, ela é capaz, em maior ou menor grau, de colorir ou dar sua forma a outras relações sociais. É claro que nunca poderemos abordar um problema desta perspectiva se formos guiados por uma impressão confusa do direito como uma forma em geral – semelhante à forma como a economia política vulgar não pode colher a essência das relações capitalistas, começando pelo conceito de capital como “trabalho acumulado em geral”.
Assim, podemos escapar desta aparente contradição, se, através da análise das definições básicas do direito, conseguirmos mostrar que ele é uma forma mistificada de alguma relação social específica. Neste caso, não será inútil dizer que esta relação em uma ou outra instância dá sua forma a outra relação social, ou mesmo à totalidade das relações sociais.
A situação não é diferente com a segunda tautologia aparente: a lei regula as relações sociais. Pois se excluirmos um certo antropomorfismo inerente a esta fórmula, ela se reduz à seguinte proposição: sob certas condições, a regulamentação das relações sociais assume um caráter jurídico. Tal formulação é sem dúvida mais correta e, o mais importante, mais histórica. Não podemos negar que a vida coletiva existe mesmo entre os animais, nem que a vida ali seja regulada de uma forma ou de outra. Mas nunca nos ocorre afirmar que as relações das abelhas ou formigas são reguladas por lei. Se nos voltarmos para as tribos primitivas, então, embora possamos observar as origens da lei, uma parte significativa das relações é regulada por um meio externo à lei, por exemplo, pelas prescrições da religião. Finalmente, mesmo na sociedade burguesa, tais como a organização dos serviços postais e ferroviários, assuntos militares, etc., podem ser atribuídos inteiramente à regulamentação legal somente mediante uma visão muito superficial que se deixa enganar pela forma externa das leis, cartas e decretos. Um horário ferroviário regula a circulação de trens em um sentido muito diferente do que, digamos, a lei sobre a responsabilidade das ferrovias regula a relação destas últimas com os transportadores de carga. A regulamentação do primeiro tipo é principalmente técnica; a do segundo, principalmente jurídica. A mesma relação existe entre o plano de mobilização e a lei sobre o serviço militar obrigatório, entre as instruções sobre a investigação dos criminosos e o Código de Processo Penal.
Retornaremos à diferença entre as normas legais e técnicas mais tarde. No momento, apenas observamos que a regulamentação das relações sociais assume uma natureza jurídica correlativa com o desenvolvimento da relação jurídica específica e básica.
A regulamentação de normas, ou a criação de normas para as relações sociais são, em princípio, homogêneas e completamente legais somente a partir de uma visão muito superficial ou puramente formal do assunto. Na verdade, existe uma diferença óbvia a este respeito entre os vários campos das relações humanas. Gumplowicz faz uma clara distinção entre direito privado e normas estatais, e só concordou em reconhecer a primeira como domínio da jurisprudência. De fato, o núcleo mais consolidado da obscuridade jurídica (se for permitido o uso de tal frase) reside precisamente nesta área das relações de direito privado. É aqui que o sujeito jurídico, “persona”, encontra uma encarnação totalmente adequada na individualidade concreta do sujeito envolvido na atividade econômica egoísta, como proprietário e portador de interesses privados. É no direito privado que o pensamento jurídico se move com mais liberdade e confiança; suas construções assumem a forma mais acabada e estruturada. É aqui que os tons clássicos de Aulus Agerius e Numerius Negidius – aqueles personagens da fórmula processual romana – sobem constantemente acima dos juristas, e é a partir deles que estes últimos se inspiram. No direito privado, os pressupostos a priori do pensamento jurídico são revestidos da carne e do sangue de duas partes em disputa, defendendo “seus próprios direitos”, com vingança nas mãos. Aqui, o papel do jurista como teórico é fundido diretamente com sua função social prática. O dogma do direito privado nada mais é do que uma interminável cadeia de argumentos a favor e contra as reivindicações imaginárias e ações potenciais. Atrás de cada parágrafo deste guia sistemático está um cliente abstrato invisível pronto para usar as proposições relevantes como conselho. Os argumentos jurídicos acadêmicos sobre o significado de um erro, ou sobre a distribuição do ônus da prova, não diferem das mesmas disputas perante um juiz. A diferença aqui não é maior do que aquela entre torneios cavalheirescos e guerras feudais. Os primeiros, como é sabido, foram conduzidos às vezes com ainda maior ferocidade, e não exigiram menos gastos de energia e sacrifício, do que verdadeiras escaramuças. Somente a substituição do empreendimento individual por uma produção e distribuição social planejada acabará com este gasto improdutivo das forças da mente humana.
O pressuposto básico da regulamentação legal é, portanto, a oposição dos interesses privados. Ao mesmo tempo, esta última é a premissa lógica da forma jurídica e a verdadeira causa do desenvolvimento da superestrutura jurídica. A conduta das pessoas pode ser regulamentada pelas regras mais complexas, mas o elemento jurídico desta regulamentação começa onde começa a individualização e a oposição de interesses. A “controvérsia”, diz Gumplowicz, “é o elemento básico de tudo o que é legal”. A unidade de propósito é, ao contrário, a premissa da regulamentação técnica. Portanto, as normas legais relativas à responsabilidade das ferrovias presumem reivindicações privadas, interesses particulares individualizados; as normas técnicas do movimento ferroviário supõem um único propósito, por exemplo, a obtenção da capacidade máxima de frete. Tomemos outro exemplo: a cura de um doente pressupõe uma série de regras tanto para o próprio doente quanto para o pessoal médico; mas na medida em que estas regras são estabelecidas a partir da perspectiva de um único propósito, a restauração da saúde do paciente, elas são de natureza técnica. A aplicação destas regras pode ser acompanhada de coerção em relação ao paciente. Mas enquanto essa coerção for considerada a partir da perspectiva de um mesmo propósito único (tanto para os governantes quanto para os governados), ela permanece apenas um ato tecnicamente expedito. Dentro destes limites, o conteúdo das regras é estabelecido pela ciência médica e é alterado com seu progresso. Aqui não há nada a ser feito pelo advogado. Seu papel começa onde deixamos a base da unidade de propósitos e passamos à consideração da perspectiva de sujeitos individualizados e antagônicos, cada um dos quais é o portador de seu próprio interesse privado. O médico e o paciente são agora transformados em sujeitos de direitos e deveres, e as regras que os conectam são regras legais. Ao mesmo tempo, a coerção é agora considerada não apenas da perspectiva da conveniência, mas da perspectiva da permissibilidade formal, ou seja, legal.
Não é difícil ver que a possibilidade de adotar uma perspectiva jurídica deriva do fato de que as mais diversas relações nas sociedades produtoras de mercadorias estão organizadas no modelo de relações de circulação comercial, e inscritas sob a forma de lei. Da mesma forma, é natural que os juristas burgueses deduzam a universalidade da forma jurídica a partir das qualidades externas e absolutas da natureza humana, ou do fato de que as ordens das autoridades podem se estender a qualquer assunto. Não é necessário fornecer qualquer prova particular disso. Um artigo no Volume Dez obrigou um marido a “amar sua esposa como se fosse seu próprio corpo”. Entretanto, mesmo os juristas mais ousados dificilmente tentariam construir uma relação jurídica correspondente envolvendo a possibilidade de libidinização, etc.
Pelo contrário, por mais artificial e irreal que pareça uma construção jurídica específica, no entanto, desde que se mantenha dentro dos limites do direito privado, e principalmente do direito de propriedade, ela tem uma base firme. Caso contrário, teria sido impossível explicar o fato de que as linhas básicas do pensamento dos juristas romanos mantiveram seu significado até o presente momento como a razão scripta de todo tipo de sociedade produtora de mercadorias.
Em certa medida, antecipamos agora a resposta à pergunta colocada no início: onde devemos procurar aquela relação social única cuja expressão inevitável é a forma de direito? Tentaremos mostrar com mais detalhes que esta relação é a relação de possuidores de commodities. [19] A análise habitual, que encontramos em qualquer filosofia do direito, identifica a relação jurídica como uma relação de vontade, como uma relação voluntária entre as pessoas em geral. O raciocínio aqui procede dos “resultados existentes do processo de desenvolvimento”, das “formas de pensamento contínuo”, mas ignora sua origem histórica; enquanto que na realidade, na proporção do desenvolvimento de uma economia de mercadorias, as premissas naturais da troca tornam-se as premissas naturais de toda forma de relação humana e imprimem nelas sua marca; na cabeça dos filósofos, ao contrário, a circulação de mercadorias é representada como uma mera instância parcial de uma forma geral que para eles assume uma natureza eterna. [20]
O camarada Stuchka, do nosso ponto de vista, identificou corretamente o problema da lei como um problema de relacionamento social. Mas ao invés de começar a buscar a objetividade social específica da relação, ele retornou à definição usual e formal – embora agora seja uma definição influenciada pelas características de classe. Na fórmula geral dada por Stuchka, a lei não figura como uma relação social específica, mas, como em todas as relações em geral, como um sistema de relações que corresponde aos interesses da classe dominante e que a protege com força organizada. Portanto, dentro destes limites de classe, a lei como relação é indistinguível das relações sociais em geral, e o camarada Stuchka não está, portanto, em condições de responder à venenosa pergunta do professor Reisner: como as relações sociais se tornam instituições legais, ou como a lei é convertida em si mesma?
A definição de Stuchka, talvez porque surgiu das profundezas do Comissariado Popular da Justiça, foi ajustada às necessidades do advogado em exercício. Ela mostra o limite empírico que a história sempre coloca sobre a lógica jurídica, mas não revela as raízes profundas desta lógica em si. Esta definição revela o conteúdo de classe incluído nas formas jurídicas, mas não nos explica por que este conteúdo adota tal forma.
Para a filosofia burguesa do direito, que considera as relações como uma forma eterna e natural de todas as relações humanas, tal questão não se coloca em geral. Para a teoria marxista, que tenta penetrar os segredos das formas sociais e reduzir “todas as relações sociais ao próprio homem”, esta tarefa deve ocupar o primeiro lugar.
CAPÍTULO III: Relação e a Norma
Como a riqueza da sociedade capitalista assume a forma de uma enorme acumulação de mercadorias, a sociedade se apresenta como uma cadeia interminável de relações jurídicas.
A troca de mercadorias assume uma economia atomizada. É mantida uma conexão entre economias privadas e isoladas, de transação em transação. A relação jurídica entre sujeitos é apenas o outro lado da relação entre os produtos do trabalho que se tornaram commodities. A relação jurídica é a célula primária do tecido jurídico através do qual a lei realiza seu único movimento real. Em contraste, a lei como um todo de normas não é mais do que uma abstração sem vida.
No entanto, a visão padrão coloca a lei objetiva ou uma norma como a base da relação jurídica tanto logicamente quanto na realidade. De acordo com esta concepção, uma relação jurídica é gerada por uma norma objetiva:
A norma do direito de exigir o pagamento de uma dívida não existe porque os credores geralmente exigem o pagamento, mas pelo contrário, os credores exigem o pagamento porque a norma existe; a lei não é estabelecida indutivamente a partir de instâncias observadas, mas por dedução de uma regra estabelecida por alguém. [21]
A expressão, “a norma gera a relação jurídica”, pode ser entendida tanto no sentido real quanto lógico.
Vejamos o primeiro deles. Acima de tudo, deve-se notar que a totalidade das normas, escritas e não escritas, pertence per se mais à esfera da criatividade literária, uma situação reconhecida freqüentemente entre os próprios juristas.
Este conjunto de normas só adquire real significado devido às relações que são concebidas como tendo surgido e, de fato, surgido de acordo com estas regras. Mesmo o mais consistente defensor do método normativo puro, Hans Kelsen, teve que reconhecer que de alguma forma uma fatia da vida real, ou seja, da conduta real das pessoas, teve que ser harmonizada com a ordem normativa ideal. Neste sentido, considerar os estatutos da Rússia czarista como lei atualmente em vigor só é possível em um asilo de loucos. O método jurídico formal, que se preocupa apenas com normas que são “consideradas como lei”, pode afirmar sua independência somente dentro de limites muito estreitos, somente enquanto a tensão entre fato e norma não exceder um limite definido. Na realidade material, uma relação tem primazia sobre uma norma. Se nem um único devedor reembolsou uma dívida, então a regra correspondente teria que ser considerada como realmente inexistente e se quiséssemos afirmar sua existência, teríamos que fetichizar esta norma de alguma forma. De fato, muitas teorias de direito se preocupam com tal fetichismo, justificando a preocupação por razões metodológicas muito esbeltas.
O direito como fenômeno social objetivo não pode ser esgotado por uma norma ou uma regra, seja escrita ou não. Uma norma como tal, ou seja, em seu conteúdo lógico, ou deriva diretamente de relações já existentes ou, se for publicada como lei estatutária, então se apresenta apenas como um sintoma pelo qual se pode avaliar, com algum grau de probabilidade, o provável surgimento das relações correspondentes num futuro próximo. Não é suficiente conhecer o conteúdo normativo do direito para confirmar sua existência objetiva. É necessário saber se este conteúdo normativo é realizado na prática, ou seja, nas relações sociais. Uma fonte comum de confusão é o método de pensamento dogmático do jurista, segundo o qual o conceito de direito operativo e normativa não está de acordo com o que o sociólogo ou historiador entende como direito objetivamente substantivo.
Quando um jurista dogmático decide se uma determinada norma de direito é operativa ou não, ele geralmente não tem em mente a questão da presença ou ausência de um fenômeno social objetivo em particular. Em vez disso, ele se preocupa apenas com a presença ou ausência de uma conexão lógica entre a disposição normativa em questão e uma premissa normativa mais geral. [22]
Assim, a norma é a única coisa que existe para o jurista dogmático que, confinado ao estreito quadro de sua tarefa puramente técnica, pode serenamente igualar lei e norma. No caso do direito consuetudinário, ele deve se voltar para a realidade independentemente. Mas quando o direito estatutário é a única suposição normativa do jurista (expressa em sua linguagem técnica, a fonte do direito), então as conclusões do jurista, e seu dogma sobre o direito “operativo”, não são de forma alguma obrigatórias para o historiador que quer estudar o direito realmente existente. O estudo científico, ou seja, teórico, só pode tratar de fatos. Se certas relações são realmente formadas, isto significa que a lei correspondente foi criada. Se um estatuto ou decreto foi meramente publicado, mas as relações correspondentes não surgiram de fato, isto significa que houve uma tentativa de criar a lei, mas a tentativa fracassou. [23]
Além disso, é possível modificar esta tese e fazer de sua pedra angular as forças reguladoras sociais objetivas ou, como expressam os juristas, a ordem jurídica objetiva, ao invés de normas. [24] Mas, mesmo nesta nova formulação, a tese pode ser objeto de mais críticas. Se as forças regulatórias sociais forem entendidas como sendo as mesmas relações em sua regularidade e constância, então temos uma tautologia simples. Se, em vez disso, forem entendidas como uma ordem especial, conscientemente organizada, assegurando e garantindo as relações dadas, então o erro lógico será totalmente claro. É impossível dizer que a relação entre credor e devedor é gerada por uma ordem coerciva que existe em um determinado estado para a recuperação de dívidas. Esta ordem objetivamente existente garante, mas certamente não gera a relação. Isto não é mero escolasticismo – o que é melhor demonstrado pelo fato de que podemos conceber, assim como encontrar, uma enorme variedade de exemplos históricos do funcionamento ideal deste aparato social coercitivo e regulador externo, e conseqüentemente os mais diversos graus em que as relações são garantidas. Além disso, estas relações em si não passam por nenhuma mudança estrutural. Podemos imaginar uma situação tão extrema como quando, exceto para as duas partes que entram na relação, não existe nenhuma outra força terceira capaz de estabelecer uma norma e garantir sua observância (por exemplo, algum contrato entre os Varangianos e os Gregos): a relação permanece mesmo aqui. Mas basta imaginar o desaparecimento de uma parte, ou seja, do sujeito como portador de um interesse autônomo distinto, e a própria possibilidade de uma relação também desaparece.
A este respeito, pode-se argumentar que se alguém se afastar da norma objetiva, então os próprios conceitos de relação jurídica e de sujeito jurídico estão em suspenso, sem definição. Em geral, esta objeção revela o espírito muito prático e empírico da jurisprudência moderna. Ela só conhece uma verdade; que qualquer ação judicial é perdida se a parte não puder confiar em um parágrafo apropriado de algum estatuto. Entretanto, a crença de que um sujeito jurídico e uma relação jurídica não existem e não são definíveis fora de uma norma objetiva, é tão teoricamente equivocada quanto a crença de que o valor não existe e não é definível fora do quadro da oferta e da demanda (porque empiricamente se reflete precisamente nas flutuações de preços).
O estilo predominante de pensamento jurídico que inicialmente coloca a norma como a regra ou conduta estabelecida com autoridade, distingue-se por esse mesmo empirismo incisivo que – também visto nas teorias econômicas – anda de mãos dadas com formalismo extremo e sem vida.
A oferta e a demanda podem existir para quaisquer objetos, inclusive aqueles que não são de forma alguma produto de trabalho. Pode-se concluir que o valor pode ser definido sem qualquer referência ao tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria específica. O fato empírico de um valor individualizado serve como base para uma teoria formal-lógica de utilidade marginal.
Da mesma forma, as normas emitidas pelo Estado podem lidar com os mais variados objetos que têm qualidades muito diferentes. A partir disto, pode-se inferir que a essência da lei é esgotada pela forma de comando ou ordem que procede da autoridade superior, e que a própria substância das relações sociais não contém elementos que poderiam gerar a forma jurídica. O fato empírico de que as relações protegidas pelo Estado são mais bem asseguradas é colocado na base da teoria formal-lógica do positivismo legal.
Nossa pergunta, expressa nos termos marxistas do materialismo histórico, é reduzida ao problema da relação entre as superstruturas jurídica e política. Se uma norma é reconhecida como o elemento dominante em todas as relações então, antes de buscar a superestrutura jurídica, devemos assumir a presença de uma autoridade normalizadora, ou seja, uma organização política. Assim, teríamos que concluir que a superestrutura legal deriva da superestrutura política.
Entretanto, o próprio Marx enfatiza o fato de que a camada básica e mais profundamente estabelecida da superestrutura legal – as relações de propriedade – é tão estreitamente contígua à base que são “as mesmas relações de produção expressas na linguagem jurídica”. O Estado, isto é, a organização do domínio político de classe, desenvolve-se a partir de relações definitivas de produção e propriedade. As relações de produção, logicamente expressas, compreendem o que Marx, seguindo Hegel, chamou de sociedade civil. A superestrutura política, e em particular o aparato estatal, é um elemento secundário, derivado.
A forma como Marx imaginou a relação entre a sociedade civil e o Estado é aparente pela citação a seguir:
O indivíduo egoísta da sociedade burguesa pode em sua imaginação insular, em sua abstração sem vida, apresentar-se como um átomo, ou seja, um ser coerente e auto-suficiente, sem necessidades ou embelezamentos. A dura realidade é que nossas percepções sensoriais não estão preocupadas com suas fantasias. Seus sentimentos o compelem a acreditar na realidade do mundo externo e também de outros indivíduos; todos os dias ele é lembrado de que o mundo externo não está vazio, mas que é o mundo externo que enche seu estômago. Cada uma de suas atividades naturais, cada uma de suas qualidades e cada incentivo a cinco torna-se uma exigência, uma necessidade que transforma seu egoísmo em uma fome pelos objetos e pelas pessoas do mundo externo. Mas como a necessidade de um indivíduo não tem nenhum significado inerente para outro indivíduo egoísta (que tem os meios para satisfazer esta necessidade), e como, portanto, a necessidade não está diretamente ligada a sua satisfação, então cada indivíduo é obrigado a fazer este vínculo a fim de tornar-se, por sua vez, o intermediário entre a necessidade de outro e o objeto desta necessidade. Assim, a necessidade natural é a característica da condição humana, por mais estranhos que pareçam uns aos outros, os membros da sociedade civil estão unidos através do interesse próprio. A vida civil, não política, este é o verdadeiro vínculo. Não é o estado que une os átomos da sociedade civil, mas o fato de que eles são átomos apenas na imaginação e na fantasia transcendental. Na realidade, eles são muito diferentes dos átomos – não são egoístas divinos, mas seres humanos egoístas. Somente a superstição política nos força a acreditar que a sociedade civil é a criação do Estado; pelo contrário, o Estado é a criação da sociedade civil. [25]
Marx volta à mesma questão em outro artigo, Moralising Criticism and Critical Morality, onde, em uma polêmica com o representante do verdadeiro socialismo, Heinzen, ele escreve:
Se em geral a burguesia politicamente, isto é, com a ajuda do poder estatal, “apóia relações de propriedade injustas” [Marx coloca aqui as palavras de Heinzen entre aspas], então ela não as cria. As “relações de propriedade injustas” auxiliadas pela moderna divisão do trabalho, as formas modernas de intercâmbio, competição, concentração, etc., não decorrem do domínio político da classe burguesa, mas, ao contrário, o domínio político da classe burguesa deriva dessas modernas relações de produção – que os economistas burgueses proclamam como leis inevitáveis e eternas.
Assim, o caminho das relações de produção às relações jurídicas ou de propriedade é mais curto do que imaginado pela chamada jurisprudência positivista, que não pode funcionar sem um elo intermediário entre o poder estatal e suas normas. O homem como produtor social é a suposição da qual procede a teoria econômica. A teoria geral do direito deve proceder a partir desta mesma premissa básica. Assim, por exemplo, a relação econômica de troca deve estar presente para que surja a relação jurídica do contrato de compra e venda. Em seu verdadeiro movimento, a relação econômica torna-se a fonte da relação jurídica, que surge primeiramente no momento de uma controvérsia. Uma disputa, um conflito de interesses, desencadeia a forma do direito, a superestrutura jurídica. Em uma disputa, ou seja, em uma ação judicial, as partes envolvidas na atividade econômica já aparecem como partes, ou seja, como participantes da superestrutura jurídica; o tribunal em sua forma mais primitiva – esta é a superestrutura jurídica por excelência. Através do processo judicial, o legal é abstraído do econômico, e aparece como um elemento independente. O direito surgiu historicamente da controvérsia, ou seja, de uma reivindicação, e só depois disso se sobrepôs à relação anterior (puramente econômica ou factual). Assim, desde o início, ele assumiu uma natureza dupla, econômica e jurídica. A jurisprudência dogmática ignora esta seqüência e começa imediatamente com o resultado final – com normas abstratas através das quais o Estado, por assim dizer, juridiza suas ações e infunde todos os espaços sociais. O elemento básico que define (da perspectiva simplista das relações de compra e venda, crédito, empréstimos, etc.) não é o conteúdo material econômico real dessas relações, mas o imperativo dirigido ao indivíduo em nome do Estado. Este ponto de partida é inútil para o jurista tanto para o estudo e explicação da estrutura jurídica concreta, como particularmente para a análise da forma jurídica em suas definições mais gerais. O poder estatal injeta clareza e estabilidade na estrutura jurídica, mas não cria suas condições prévias que estão enraizadas nas relações materiais de produção.
Gumplowicz, em seu Rechtsstaat und Sozialismus, naturalmente chega à conclusão diretamente oposta, proclamando o primado do Estado, ou seja, da dominação política. Voltando à história do direito romano, ele acha que conseguiu provar que o direito privado já foi direito público”. Em sua opinião, isto se deu porque todos os institutos mais importantes do direito civil romano, por exemplo, surgiram como privilégios da classe dominante, como vantagens do direito público nas mãos do grupo vitorioso, com o objetivo de consolidar seu poder.
Não se pode negar que esta teoria é convincente, na medida em que enfatiza o elemento da luta de classes e acaba com a visão idílica do surgimento da propriedade privada e do poder. Mas Gumplowicz comete dois grandes erros. Primeiro, ele dá à coerção um papel tão construtivo e perde de vista o fato de que toda ordem social, incluindo aquelas que foram formadas com base na conquista, é determinada pelas condições específicas das forças sociais de produção. Segundo, ao falar do estado ele apaga qualquer diferença entre relações primitivas de dominação e “poder público” no sentido moderno, ou seja, burguês da palavra. Ele infere, portanto, que o direito privado é gerado pelo direito público. Mas do fato de que os institutos mais importantes do antigo ius civile romano (propriedade, família, procedimento para herança) foram criados pela classe dominante para apoiar sua dominação, também é possível tirar a conclusão diametralmente oposta – que “todo direito público já foi direito privado”. Isto será tão verdadeiro, ou melhor, tão falso, porque a antítese entre direito privado e direito público corresponde a relações muito mais desenvolvidas e perde seu significado e aplicação na era primitiva. Se os institutos do ius civile eram realmente uma mistura de características do direito público e do direito privado (usando terminologia moderna), então eles incluíam igualmente elementos religiosos e, em um sentido amplo, ritualísticos. Consequentemente, neste nível de desenvolvimento, o elemento puramente jurídico era inseparável de sua reflexão no sistema conceitual geral.
O desenvolvimento da lei como um sistema foi evocado não pelas exigências do Estado, mas pelas condições necessárias para as relações comerciais entre aquelas tribos que não estavam sob uma única esfera de autoridade. Isto é reconhecido, aliás, pelo próprio Gumplowicz. As relações comerciais com tribos estrangeiras, com nômades e plebeus, e em geral com aqueles que não participavam da união do direito público (na terminologia de Gumplowicz), inauguraram o ius gentium, que foi o protótipo da superestrutura legal em sua forma pura. Em contraste com o ius civile, com suas formas não evolutivas e pesadas, o ius gentium descarta tudo o que não está relacionado com o objetivo – com a base natural da relação econômica. O direito público encarna a natureza desta relação e, portanto, aparece como lei “natural”; ele se esforça para reduzir esta relação ao número mínimo de suposições e, portanto, se desenvolve facilmente em um sistema logicamente estruturado. Gumplowicz sem dúvida está certo quando equaciona a lógica jurídica com a lógica do civil, mas ele está enganado ao pensar que o sistema de direito privado poderia ter se desenvolvido, por assim dizer, de forma derivada do poder público. Sua linha de pensamento é aproximadamente a seguinte: porque as disputas privadas não tocaram direta ou materialmente nos interesses da autoridade, então esta última deu ao corpo de juristas total liberdade para refinar suas habilidades mentais nesta esfera. No campo do direito público, ao contrário, a realidade resistiu aos esforços dos juristas, porque a autoridade não tolera nenhuma interferência em seus próprios assuntos e não reconhece a onipotência da lógica jurídica.
É mais óbvio que a lógica dos conceitos jurídicos corresponde à lógica da relação social de produção de mercadorias e que a história do sistema de direito privado deve ser buscada nestas relações e não na dispensa das autoridades. Pelo contrário, as relações lógicas de dominação e subordinação estão incluídas apenas parcialmente no sistema de conceitos jurídicos. Portanto, o conceito jurídico do Estado pode nunca se tornar uma teoria, mas sempre aparecerá como uma distorção ideológica dos fatos.
Onde quer que a primeira camada da superestrutura jurídica exista, descobrimos que a relação jurídica é gerada diretamente pelas relações de produção material existentes entre as pessoas.
Daqui decorre que para a análise da relação jurídica, em sua forma mais simples, não há necessidade de proceder a partir do conceito de norma como um comando autoritário externo. Basta tomar como base uma relação jurídica “cujo conteúdo tem origem na própria relação econômica” (Marx), e estudar a forma “jurídica” desta relação jurídica como um de seus aspectos parciais.
A questão de saber se uma norma deve ser considerada um pré-requisito de uma relação jurídica na realidade histórica, nos levou ao problema da relação entre as superestruturas jurídica e política. Por razões lógicas e sistemáticas, o problema parece ser a relação entre o direito objetivo e o direito subjetivo.
Em seu texto sobre direito constitucional, Duguit chamou a atenção para o fato de que a palavra “droit” significava “coisas que sem dúvida estão profundamente entrelaçadas, mas que são extremamente diferentes umas das outras”. Aqui, ele quer dizer direito nos sentidos objetivo e subjetivo. De fato, chegamos aqui a uma das áreas mais obscuras e disputadas da teoria geral do direito. Diante de nós está uma espécie de estranho conceito duplo; embora ambos os aspectos estejam localizados em níveis diferentes, eles, no entanto, sem dúvida, condicionam-se mutuamente. O direito é simultaneamente uma forma de regulação autoritária externa e uma forma de autonomia subjetiva privada. A característica básica e essencial da primeira é a obrigação incondicional e a coerção externa, enquanto a liberdade é assegurada e reconhecida dentro de limites definidos. O direito aparece tanto como a base da organização social quanto como o meio para que os indivíduos “sejam dissociados, mas integrados na sociedade”. Por um lado, a lei se funde completamente com a autoridade externa e, por outro, se opõe completamente a toda autoridade externa não reconhecida por ela. A dualidade da lei como sinônimo de poder oficial do Estado, e como slogan da luta revolucionária, é a arena para uma controvérsia ilimitada e a confusão mais impossível.
A consciência desta profunda e oculta contradição produziu esforços poderosos de alguma forma para eliminar esta problemática dicotomia conceitual. Para este propósito, não foram feitas poucas tentativas para adotar um dos “significados” no sacrifício do outro. Assim, por exemplo, o mesmo Duguit, que em seu tratado declara as expressões – lei objetiva e subjetiva – “bem sucedida, querida e exata”, em outra de suas obras refina a prova de que a lei subjetiva é “simplesmente um mal-entendido, uma concepção metafísica insustentável em uma era de realismo e positivismo como a nossa”.
A tendência oposta, cujo representante alemão é Bierling, e entre nós os psicólogos encabeçados por Petrazhitsky, estão inclinados a declarar a lei objetiva “uma fantasia”, privada de significado real “uma projeção emocional”, um produto da objetivação interna, isto é, psicológica, processos, etc.
Descartando por ora a escola psicológica e as tendências a ela relacionadas, consideremos a visão segundo a qual a lei deve ser entendida exclusivamente como uma norma objetiva. Partindo deste conceito, temos, por um lado, uma prescrição autorizada do necessário (ou da norma) e, por outro lado, a obrigação subjetiva correspondente e gerada por ela.
O dualismo é aparentemente desenraizado, mas esta é apenas uma vitória temporária, pois assim que passamos à aplicação prática desta fórmula, são feitas tentativas imediatas por vias indiretas e sinuosas para introduzir aqueles contornos necessários para a criação conceitual do direito subjetivo. Agora voltamos à mesma dicotomia, com a única diferença de que uma parte dela, a lei subjetiva, é artificialmente representada como algumas espécies de fantasmas; nenhuma combinação de imperativos e obrigações pode nos proporcionar a lei subjetiva, no sentido independente e real em que qualquer proprietário da sociedade burguesa a encarna. De fato, basta apenas exemplificar a propriedade para ser convencido disso. Se a tentativa de reduzir o direito de propriedade a proibições dirigidas a terceiros não é mais que uma confusão lógica, um conceito feio e invertido, então a representação do direito burguês de propriedade como uma obrigação social é também uma mistificação. [26]
Cada proprietário e todos ao seu redor, entende claramente que o direito que lhe pertence como proprietário tem apenas isso em comum com uma obrigação: eles são opostos polares. O direito subjetivo tem primazia, pois, em última instância, baseia-se em um interesse material que existe independentemente de uma regulamentação externa, isto é, consciente, da vida social.
O sujeito como portador e destinatário de todas as demandas possíveis, e a cadeia de sujeitos vinculados por demandas dirigidas uns aos outros, é o tecido jurídico básico correspondente ao tecido econômico, ou seja, às relações sociais de produção que dependem da divisão do trabalho e do intercâmbio.
A organização social, incluindo os instrumentos de coerção, é a totalidade concreta à qual devemos nos voltar, tendo previamente compreendido a relação jurídica em sua forma mais pura e simples. Assim, a obrigação como resultado de um imperativo ou ordem, é agora o elemento atualizante e complicador na consideração da forma jurídica. Em sua forma mais abstrata e simples, uma obrigação legal deve ser considerada como expressão e correlação de uma reivindicação legal subjetiva. Na análise de uma relação jurídica, vemos claramente que uma obrigação não esgota o conteúdo lógico da forma jurídica. Ela não é nem mesmo um elemento independente dela. Uma obrigação aparece sempre como uma expressão ou correlação de um direito legal apropriado. A obrigação de uma parte é o que é devido e, portanto, o que pertence a outra. O que aparece como um direito para o credor aparece como uma obrigação para o devedor. A categoria de direito legal torna-se logicamente completa somente quando inclui um portador e um proprietário de direitos, cujos direitos não são nem mais nem menos do que as obrigações de outros para com ele.
Assim, a relação jurídica não só nos dá direito em seu verdadeiro movimento, mas também revela as peculiaridades mais características do direito como uma categoria lógica. Por outro lado, a própria norma, como prescrição do que é exigido, constitui tanto os elementos de moralidade, estética e tecnologia como de direito.
A ordem jurídica se distingue de qualquer outra ordem social na medida em que compreende sujeitos isolados e privados. Uma norma de direito adquire sua especificidade, distinguindo-a da massa geral de normas reguladoras – morais, estéticas, utilitárias etc. – porque pressupõe uma pessoa dotada de um direito e que o reivindica ativamente.
A tentativa de fazer da noção de regulamentação externa o elemento lógico básico do direito leva à equação do direito com a ordem social estabelecida com autoridade. Esta corrente de pensamento jurídico reflete verdadeiramente o espírito daquele período em que os monopólios capitalistas de grande escala e a política imperialista substituíram a Escola de Manchester e a livre concorrência.
Não é difícil demonstrar que a idéia de obediência incondicional a uma norma externa – estabelecendo autoridade – não tem nada em comum com a forma jurídica. É suficiente tomar exemplos que foram marcados com extremo rigor e que são, portanto, exemplos mais claros de tal estrutura. Um exemplo poderia ser a unidade militar, onde a maioria das pessoas está subordinada em seus movimentos a ordens gerais cuja origem única, ativa e autônoma é a vontade do comandante. Outro exemplo é a ordem jesuíta. Aqui, todos os membros cumprem cegamente e sem reclamações a vontade do líder. É suficiente pensar nestes exemplos para concluir que quanto mais consistentemente a base da regulamentação autoritária for aplicada, excluindo assim qualquer sugestão de uma vontade separada e autônoma, menos será a oportunidade para a aplicação da categoria da lei. Isto é particularmente acentuado no campo do chamado direito público. Aqui, a filosofia jurídica enfrenta as maiores dificuldades. Ao mesmo tempo que o direito civil, operando no nível do direito primário, utiliza de forma ampla e confiante o conceito de direitos subjetivos, a aplicação deste conceito na teoria do direito público cria constantemente mal-entendidos e contradições. O sistema de direito civil é, portanto, caracterizado pela simplicidade, clareza e integralidade, enquanto as teorias de direito público estão repletas de construções rígidas, artificiais e grotescamente unilaterais. A forma jurídica, com seu aspecto de autoridade jurídica subjetiva, nasce em uma sociedade constituída por portadores atomizados de interesse privado e egoísta. Quando toda vida econômica é construída sobre o princípio de acordo entre vontades independentes, então toda função social, de uma ou outra forma explícita, assume uma natureza jurídica, ou seja, torna-se não apenas uma função social, mas também o direito legal da pessoa que cumpre esta função. No entanto, como os interesses privados não podem inerentemente alcançar tão pleno desenvolvimento e significado esmagador na organização política quanto na economia da sociedade burguesa, portanto, mesmo os direitos públicos subjetivos agem como algo efêmero, privados de raízes reais, e estão constantemente em dúvida. Ao mesmo tempo, o Estado não é uma superestrutura legal – ele pode ser meramente imaginado como tal.
A teoria jurídica não pode equiparar “os direitos do parlamento”, “os direitos do poder executivo” etc., por exemplo, ao direito do credor ao pagamento de uma dívida. Isto seria colocar um interesse privado distinto onde a ideologia burguesa presume a autoridade de um interesse geral impessoal do Estado. Mas, ao mesmo tempo, todo jurista sabe que não pode investir estes direitos com qualquer outro conteúdo básico sem que a forma jurídica lhe escape. O direito público só pode existir como reflexo da forma do direito privado na esfera da organização política, ou então ele deixa de ser lei. As tentativas de representar uma função social como ela realmente é, ou seja, simplesmente uma função social, e uma norma meramente como uma regra organizadora, significam a extinção da forma jurídica. Entretanto, a verdadeira premissa para a transcendência da forma jurídica e da ideologia jurídica é aquela condição social na qual o próprio conflito entre interesses sociais individuais se tornou supérfluo.
Uma característica da sociedade burguesa é o fato de que os interesses gerais são alienados dos interesses privados, e se opõem a eles. Mas nesta oposição, eles não adotam voluntariamente a forma de interesses privados, ou seja, a forma de direito. Assim, como seria de se esperar, os elementos legais da organização estatal são principalmente aqueles que se harmonizam com o sistema de interesses antagônicos, isolados e privados.
Assim, o próprio conceito de direito público só pode ser desenvolvido naquele processo em que, figurativamente, ele diverge constantemente do direito privado, tentando definir-se como antítese deste último, e depois se volta para ele como se fosse seu centro de atração.
A tentativa de proceder no sentido inverso, ou seja, de encontrar as definições básicas do direito privado (que não são nada além das definições do direito em geral), utilizando uma norma como plataforma conceitual, não pode produzir nada além de conceitos formais sem vida, carregados de contradição interna. O direito como função deixa de ser lei, e o poder sem os interesses privados que o sustentam torna-se elusivo e abstrato, tornando-se facilmente sua antítese, ou seja, uma obrigação (todo direito público é ao mesmo tempo uma obrigação). assim como o “direito” legal do credor de receber o reembolso é elementar, claro e “natural”, assim o “direito” legal do parlamento de aprovar o orçamento é tênue e problemático. Se, em direito civil, os argumentos escolares são conduzidos no nível do que Jhering chamou de sintoma jurídico, então a própria base da jurisprudência é posta em perigo. Esta é a fonte da distorção metodológica e da hesitação. É isto que ameaça transformar a jurisprudência em um híbrido de sociologia e psicologia.
CAPÍTULO IV: Mercadoria e o Assunto
Toda relação jurídica é uma relação entre sujeitos. Um sujeito é o átomo da teoria jurídica, o elemento mais simples e irredutível. E com ele começamos nossa análise.
Ao mesmo tempo em que as teorias idealistas do direito começam com alguma idéia geral e desenvolvem o conceito do sujeito, ou seja, de uma forma puramente especulativa, a jurisprudência dogmática utiliza este conceito de uma maneira formal. Para ele, o assunto nada mais é do que “um meio para a qualificação legal dos fenômenos do ponto de vista de sua adequação ou inadequação para a participação nas relações jurídicas”. Portanto, não se pergunta por que o homem passou de um ambiente animal para um sujeito jurídico, uma vez que procede da relação jurídica como forma antecedente.
A teoria de Marx, ao contrário, considera toda forma social como histórica e, portanto, estabelece sua tarefa como a explicação daquelas condições históricas, materiais, que tornam uma ou outra categoria real. As premissas materiais das relações jurídicas, ou as relações dos sujeitos jurídicos, são explicadas pelo próprio Marx no primeiro volume do Capital. É verdade que ele o fez obliquamente, e sob a forma das alusões mais gerais. Entretanto, estas alusões proporcionam muito mais para a compreensão do elemento legal nas relações entre as pessoas do que os tratados multi-volumes sobre a teoria geral do direito. Para Marx, a análise da forma do sujeito flui diretamente da análise da forma das mercadorias.
A sociedade capitalista é, acima de tudo, uma sociedade de proprietários de mercadorias. Isto significa que no processo de produção as relações sociais das pessoas assumem uma forma objetivada nos produtos do trabalho e estão relacionadas entre si como valores. As mercadorias são objetos cuja multiplicidade concreta de qualidades úteis se torna meramente uma simples cobertura física da qualidade abstrata do valor, e que aparece como a capacidade de ser trocada por outras mercadorias em uma relação definida. Esta qualidade aparece como algo inerente aos próprios objetos, pela força de um tipo de lei natural que age nas costas das pessoas, totalmente independente de sua vontade.
Mas se uma mercadoria adquire valor independentemente da vontade do sujeito que a produz, então a realização de valor no processo de troca pressupõe um ato voluntário consciente por parte do proprietário da mercadoria. Ou, como diz Marx, “as mercadorias não podem se enviar para um mercado e se trocar umas com as outras”. Assim, devemos recorrer ao seu custodiante, ao proprietário da mercadoria. As mercadorias são objetos e, portanto, indefesas diante do homem. Se elas não forem por vontade própria, ele usará a força, ou seja, se apropriará delas”. [27]
Assim, no processo de produção, as relações sociais das pessoas realizadas nos produtos do trabalho e assumindo a forma de uma lei elementar, exigem para sua realização uma relação particular de pessoas como gerentes de produtos, e sujeitos “cuja vontade rege objetos”.
Portanto, simultaneamente com o produto do trabalho assumindo a qualidade de uma mercadoria e tornando-se o portador de valor, o homem assume a qualidade de um sujeito jurídico e se torna o portador de um direito legal. “Uma pessoa cuja vontade é declarada decisiva é o sujeito de um direito legal”. [28]
Simultaneamente, a vida social é reduzida, por um lado, à totalidade das relações elementares objetivadas nas quais as pessoas nos aparecem como objetos (tais são todas relações econômicas: o nível de preços, mais-valia, lucro etc.) e, por outro lado, aquelas relações que definem o homem somente por referência a um objeto, ou seja, como sujeito, ou em relações jurídicas. Estas duas formas básicas são diferentes em princípio, mas, ao mesmo tempo, estão intimamente ligadas e mutuamente dependentes. A relação social, produtiva, aparece simultaneamente em duas formas incongruentes: como o valor de uma mercadoria e como a capacidade do homem de ser sujeito de direitos.
Da mesma forma que a multiplicidade natural das qualidades úteis de um produto é em uma mercadoria uma simples máscara de seu valor, enquanto as espécies concretas de trabalho humano são dissolvidas em trabalho humano abstrato como criador de valor, assim a multiplicidade concreta da relação do homem com um objeto aparece como a vontade abstrata do proprietário, enquanto todas as peculiaridades concretas, que distinguem um representante da espécie Homo sapiens de outro, são dissolvidas na abstração do homem em geral como sujeito legal.
Se economicamente um objeto domina o homem, já que como mercadoria encarna em si mesmo uma relação social não sob a autoridade do homem, então o homem domina legalmente o objeto porque como seu possuidor e proprietário ele próprio torna-se meramente a encarnação do abstrato, o sujeito impessoal dos direitos, o produto puro das relações sociais. Expressando isto nas palavras de Marx, nós dizemos:
Para que esses objetos possam se relacionar uns com os outros como mercadorias, seus tutores devem se relacionar uns com os outros, como pessoas cuja vontade reside nesses objetos; e devem se comportar de tal forma que cada um não se aproprie da mercadoria do outro, e parte com a sua própria, exceto por meio de um ato feito por consentimento mútuo. Devem, portanto, reconhecer mutuamente, um no outro, os direitos dos proprietários privados. [29]
Tendo caído na dependência servil das relações econômicas criadas sub-repticiamente na forma das leis de valor, o sujeito econômico – como se em compensação – recebe um raro presente em sua qualidade de sujeito jurídico: uma vontade legalmente presumida, tornando-o absolutamente livre e igual entre outros proprietários de mercadorias. “Todos devem ser livres e ninguém pode violar a liberdade do outro … cada pessoa possui seu próprio corpo como um instrumento livre de sua própria vontade”. [30] Este é o axioma do qual procede a teoria do direito natural. E esta idéia de separação, a proximidade inerente da individualidade humana, esta “condição natural”, da qual “a infinita contradição da liberdade” flui, corresponde inteiramente ao método de produção de mercadorias no qual os produtores são formalmente independentes uns dos outros e não estão vinculados por nada mais que a ordem jurídica artificialmente criada, por esta mesma condição legal ou, falando nas palavras do mesmo autor, “a existência conjunta de muitos seres livres, onde todos devem ser livres e a liberdade de um não deve impedir a liberdade do outro”. Isto nada mais é do que uma abstração filosófica ideologizada transferida para as alturas celestiais, liberta de seu empirismo grosseiro; produtores independentes se encontram neste mercado porque, como nos ensina outro filósofo, “na transação do mercado ambas as partes fazem o que querem e não reivindicam maior liberdade do que elas mesmas concedem às outras”.
A crescente divisão do trabalho, a expansão das relações sociais e o desenvolvimento das trocas daí decorrentes fazem do valor de troca uma categoria econômica, ou seja, a encarnação das relações sociais de produção que estão acima do indivíduo. Para isso é necessário que atos de troca separados e aleatórios se transformem em uma ampla circulação sistemática de mercadorias. Neste estágio de desenvolvimento, o valor é arrancado da avaliação arbitrária, perde seu caráter de fenômeno da psique individual e assume um significado econômico objetivo. Da mesma forma, são necessárias condições reais para que o homem seja transformado de um ser zoológico em um sujeito de direito abstrato e impessoal, em uma pessoa jurídica. Estas condições reais consistem na condensação das relações sociais e no poder crescente do social, isto é, da organização de classes, que atinge sua intensidade máxima no estado burguês “bem organizado”. Aqui, a capacidade de ser sujeito de direitos é finalmente arrancada da personalidade concreta viva, deixa de ser uma função de sua vontade consciente ativa, e se torna uma qualidade puramente social. A capacidade legal é abstraída da capacidade de ter direitos. O sujeito jurídico recebe seu alter ego na forma de um representante enquanto ele próprio assume o significado de um ponto matemático, um centro no qual uma certa soma de direitos está concentrada.
Assim, a propriedade capitalista burguesa deixa de ser uma posse fraca, instável e puramente factual, que a qualquer momento pode ser disputada e deve ser defendida vi et armis. Ela se transforma em um direito absoluto e imóvel que segue o objeto em todos os lugares que o acaso o levou e que desde o momento em que a civilização burguesa afirmou sua autoridade sobre todo o globo, é protegida em cada canto por leis, polícia, tribunais. [31]
Nesta fase de desenvolvimento, a chamada teoria da vontade dos direitos subjetivos começa a parecer incongruente com a realidade. Agora é preferível definir um direito no sentido subjetivo como “a soma dos benefícios que o general reconhecerá como pertencentes a uma pessoa específica”. Além disso, este último não exige que uma pessoa tenha a capacidade de vontade e de agir. Naturalmente, a definição de Dernburg é mais adequada a essa visão do jurista moderno. que deve lidar com a capacidade legal e os direitos de idiotas, crianças, pessoas jurídicas, etc. Em suas conclusões extremas, a teoria da vontade foi equiparada à exclusão destas categorias dos sujeitos de direitos. Dernburg está certamente mais próxima da verdade ao entender o sujeito de direitos como um fenômeno puramente social. Mas, por outro lado, é muito claro para nós por que o elemento da vontade desempenhou um papel tão essencial na construção do conceito do sujeito. O próprio Dernburg vê isto em parte quando afirma que:
direitos no sentido subjetivo existiam muito antes da criação de uma ordem estatal consciente; eles se baseavam na personalidade do homem individual e no respeito que ele podia ganhar e obrigar com respeito a si mesmo e a sua propriedade. Somente gradualmente, por abstração do conceito de direitos subjetivos existentes, foi formado o conceito de ordem jurídica. A visão de que os direitos, no sentido subjetivo, são meramente o resultado do direito objetivo, é ahistórica e falsa. [32]
“Vencer e obrigar” é obviamente possível somente para alguém que desfruta tanto da vontade como também de uma quantidade significativa de poder. Por outro lado, Dernburg esquece que o conceito do sujeito surgiu e se desenvolveu a partir de seu contraste com um objeto ou coisa. Uma mercadoria é um objeto; um homem é um sujeito que dispõe da mercadoria em atos de aquisição e alienação. É na transação de troca que o sujeito aparece primeiro na totalidade de suas definições. Um conceito formal e aperfeiçoado do sujeito, que seria simplesmente deixado com capacidade legal, nos desvia ainda mais do sentido histórico vivo real desta categoria legal. É por isso que é difícil para os juristas renunciar completamente ao elemento ativo e volitivo nos conceitos do sujeito e do direito jurídico subjetivo.
A esfera da dominação, que assumiu a forma de um direito subjetivo, é um fenômeno social que é atribuído ao indivíduo na mesma base em que valor, também um fenômeno social, é atribuído a um objeto, a um produto do trabalho. O fetichismo das mercadorias é complementado pelo fetichismo legal.
Assim, em um determinado estágio de desenvolvimento, as relações entre as pessoas no processo de produção assumem uma forma duplamente desconcertante. Por um lado, elas aparecem como uma relação de objetos, mercadorias, e por outro como relações de indivíduos independentes e iguais uns aos outros – sujeitos legais. Junto com a qualidade mística de valor, algo não parece menos perplexo – um direito legal. Simultaneamente, uma única relação inteira assume dois aspectos abstratos básicos – econômico e jurídico.
No desenvolvimento das categorias legais, a capacidade de executar transações de câmbio é apenas um dos fenômenos concretos da qualidade geral da capacidade de ter direitos legais e de conduzir transações. No entanto, historicamente é principalmente a transação de câmbio que forneceu a idéia de um sujeito como portador abstrato de todas as possíveis reivindicações legais. Somente nas condições de uma economia de mercadorias é criada a forma abstrata de um direito, ou seja, a capacidade de ter um direito em geral é separada de reivindicações legais específicas. Somente a transferência constante de direitos que ocorre no mercado cria a idéia de seu portador imóvel. A pessoa que recebe uma obrigação no mercado assume ela mesma uma obrigação ao mesmo tempo. A posição de um credor é transferida para a de um devedor. Assim, cria-se a possibilidade de abstrair-se das diferenças concretas entre estes sujeitos de direitos legais, e de colocá-los sob um conceito genérico. [33]
Semelhante ao modo como as transações de troca da produção de mercadorias desenvolvidas eram precedidas por atos de troca aleatórios e formas de troca como presentes mútuos, o sujeito legal com a esfera de domínio legal se expandindo ao seu redor era morfologicamente precedido pelo indivíduo armado ou, mais frequentemente, grupo de pessoas, clã, horda, tribo, capaz em uma disputa ou uma batalha de defender aquilo que era a condição de sua existência. Este estreito laço morfológico une muito bem a corte com o duelo, e as partes e o processo com as partes em luta armada. Com o crescimento das forças reguladoras sociais, o sujeito perde proporcionalmente sua tangibilidade material. Sua energia pessoal é substituída pelo poder social, ou seja, o poder de classe, a organização, que encontra sua mais alta expressão no Estado. Este sujeito impessoal e abstrato corresponde, como sua expressão, à autoridade impessoal do estado abstrato que atua em equilíbrio ideal e continuidade no espaço e no tempo.
Mas antes de desfrutar dos serviços do mecanismo estatal, o assunto depende da continuidade orgânica das relações. Assim como a repetição regular de atos de troca constitui um valor, como uma categoria geral levantada acima de avaliações subjetivas e relações de troca aleatórias, também a repetição regular de uma mesma relação – costume – dá um novo significado à esfera subjetiva da dominação, justificando sua existência por uma norma externa.
O costume ou tradição, como base mais elevada do que o indivíduo para reivindicações legais, corresponde ao sistema feudal com suas limitações e estagnação. Tradição ou costume é, em essência, algo incluído em fronteiras geográficas notoriamente bastante estreitas. Portanto, todo direito é pensado meramente como um atributo de um sujeito concreto específico ou de um grupo de sujeitos. No mundo feudal, “cada direito era um privilégio” (Marx). Cada cidade, cada propriedade, cada grêmio vivia de acordo com sua lei que seguia um homem onde quer que ele estivesse. A idéia de um status legal formal, comum a todos os cidadãos, geral para todas as pessoas, estava ausente neste período. Correspondendo a isto no campo econômico estavam economias fechadas auto-suficientes, proibições de importação e exportação, etc.
“O conteúdo da individualidade não era o mesmo. O patrimônio, a posição da propriedade, a profissão, a crença, a idade, o sexo e a força física levaram a uma profunda desigualdade na capacidade jurídica”. [34] A igualdade entre os sujeitos era assumida apenas para relações fechadas em uma esfera estreita definida; assim, membros de um mesmo patrimônio eram iguais uns aos outros na esfera do direito de propriedade, membros de um mesmo guilda eram iguais na esfera do direito de guilda etc. Nesta fase, o sujeito jurídico, como portador geral abstrato de todas as reivindicações concebíveis de direitos, aparece apenas no papel de detentor de privilégios específicos.
Nesta etapa “a consciência legal vê que os mesmos ou iguais direitos foram atribuídos a pessoas individuais ou coletivos, mas não conclui que essas pessoas e coletivos eram um e o mesmo em seu atributo de ter direitos”. [35]
Na medida em que na Idade Média o conceito abstrato de um sujeito jurídico estava ausente, também a idéia de uma norma objetiva, dirigida a um círculo impreciso e amplo de pessoas, foi misturada e fundida no estabelecimento de privilégios e “liberdades” concretos. No final do século XIII encontramos vestígios de algumas impressões claras sobre a diferença entre direito objetivo e direitos ou poderes legais subjetivos. Nos certificados de privilégios e cotas, que foram dados às cidades por imperadores e príncipes, a mistura destes dois conceitos é encontrada em cada etapa. A forma usual de estabelecer algumas regras ou normas gerais era o reconhecimento de uma unidade territorial definida, ou da população em sentido coletivo, como tendo qualidades legais específicas. Tal caráter foi suportado até mesmo pela famosa fórmula Stadtluft macht frei A abolição das batalhas judiciais foi realizada na mesma forma; junto com estes decretos, e como algo inteiramente do mesmo tipo foram incluídos os direitos dos habitantes da cidade, por exemplo, no uso da floresta do príncipe ou do imperador.
A mesma mistura de elementos objetivos e subjetivos foi a princípio observada no próprio direito municipal Os estatutos municipais eram em parte disposições de caráter geral e em parte uma lista de direitos ou privilégios individuais que eram usufruídos por algum grupo de cidadãos.
Somente com o pleno desenvolvimento das relações burguesas é que a lei obteve um caráter abstrato. Cada homem tornou-se um homem em geral, todo trabalho foi equiparado a trabalho socialmente útil em geral, cada sujeito tornou-se um sujeito jurídico abstrato. Simultaneamente, a norma também assumiu a forma logicamente aperfeiçoada da lei geral abstrata.
Assim, o sujeito jurídico é o proprietário da mercadoria abstrata elevada aos céus. Sua vontade – entendida no sentido jurídico – tem sua base real no desejo de alienar na aquisição e de adquirir na alienação. Para que este desejo seja realizado é necessário que os desejos dos proprietários de mercadorias sejam dirigidos uns aos outros. Legalmente, esta relação é expressa como um contrato ou um acordo de vontades independentes. Portanto, o contrato é um dos conceitos centrais do direito. Em linguagem altiva, ele se torna um componente da idéia de direito. No sistema lógico dos conceitos jurídicos, o contrato é apenas uma das formas de transação em geral, ou seja, um dos métodos de expressão concreta da vontade com cuja ajuda o sujeito atua sobre a esfera jurídica ao seu redor. Historicamente e na realidade, ao contrário, o conceito de transação cresceu a partir do contrato. Fora do contrato, os próprios conceitos de sujeito e existirão apenas como abstrações sem vida no sentido jurídico. Em contrato estes conceitos obtêm seu pleno movimento, e simultaneamente a forma jurídica, em seu aspecto mais puro, recebe sua base material no ato da troca. O ato de intercâmbio concentra assim, em seu foco, todos os elementos essenciais da economia política e do direito. Em troca, nas palavras de Marx, “uma relação volitiva ou jurídica é produzida pelas próprias relações econômicas”. Uma vez surgida, a idéia de contrato se esforça para assumir um significado universal. Antes dos possuidores de mercadorias “reconhecidas” uns aos outros como proprietários, eles já o eram, é claro, mas num sentido diferente, orgânico e extra-jurídico. O “reconhecimento mútuo” não significa nada mais que uma tentativa de interpretar, com a ajuda da fórmula abstrata do contrato, aquelas formas orgânicas de apropriação que dependem do trabalho, conquista etc., que uma sociedade de produtores de commodities encontra pronta em seu início. Por si só, a relação do homem com um objeto é privada de todo significado legal. Isto é sentido pelos juristas quando tentam dar sentido à instituição da propriedade privada como uma relação entre sujeitos, ou seja, entre pessoas. Mas eles interpretam isto puramente formal e negativamente, como uma proibição universal que exclui todos, exceto o proprietário, do uso e disposição do objeto; esta concepção, embora adequada para os propósitos práticos da jurisprudência dogmática, é a mais inadequada para a análise teórica. Em suas proibições abstratas, o conceito de propriedade perde todo o significado real e renuncia a sua própria história pré-jurídica.
Mas se a relação orgânica, “natural” de um homem com um objeto, ou seja, sua apropriação, constitui geneticamente o ponto de partida do desenvolvimento, então a transformação desta relação em jurídica ocorreu sob a influência daqueles requisitos que foram invocados pela circulação de boons, ou seja, principalmente as compras e vendas. Hauriou chama a atenção para o fato de que mesmo a troca marítima e a troca de caravanas não criaram inicialmente uma exigência para a garantia da propriedade. A distância que separava os envolvidos na troca dava uma melhor garantia contra qualquer reclamação. A formação de um mercado estável invocou a necessidade de regulamentar a questão do direito de dispor de mercadorias e, conseqüentemente, do direito de propriedade. [36] O título de propriedade no antigo direito romano, mancipatio per aes et libram, mostra que ele nasceu simultaneamente com o fenômeno da troca interna. Da mesma forma, a transferência por herança começou a ser fixada como um título de propriedade somente a partir dos tempos em que as transações civis mostravam interesse nesta transmissão. [37]
Em troca, falando nas palavras de Marx, “um possuidor de mercadoria somente pela vontade de outro … pode adquirir para si mesmo a mercadoria de outro, alienando-a como sua”, É precisamente este pensamento que os representantes da faculdade de direito natural também se esforçam para expressar, tentando basear a propriedade em algum contrato inicial. Eles estavam certos, naturalmente, não no sentido de que tal 1contrato já tenha ocorrido historicamente, mas no sentido de que formas naturais ou orgânicas de apropriação obtenham um caráter legal e comecem a exibir sua “inteligência” legal em atos mútuos de apropriação e alienação. Aqui é necessário buscar explicações para a contradição entre propriedade feudal e burguesa. A maior falha da propriedade feudal aos olhos do mundo burguês, não está em sua origem (conquista, força), mas em sua imobilidade, no fato de ser incapaz de se tornar objeto de garantias mútuas, movendo-se de uma mão a outra em atos de alienação e apropriação. A propriedade feudal ou patrimonial viola o princípio básico da sociedade burguesa – “a igual possibilidade de obter desigualdade”. Hauriou, um dos mais aguçados juristas burgueses, enfatiza corretamente a mutualidade como a garantia mais eficaz da propriedade e, portanto, realizável com a menor quantidade de compulsão externa. Assim, a mutualidade, segurada pelas leis do mercado, assume sua própria natureza como uma instituição “eterna”. Em contraste com isto, uma garantia puramente política, dada pelo aparelho da compulsão estatal, é simplesmente para a defesa do grupo proprietário específico, ou seja, é um elemento que não tem nenhum significado de princípio. A luta de classes levou freqüentemente na história a uma nova distribuição de propriedade, à expropriação de emprestadores de dinheiro e proprietários de latifúndios. Mas estas revoltas, por mais desagradáveis que fossem para as classes e grupos que sofreram, não perturbaram os fundamentos básicos da propriedade privada – o fato econômico das transações econômicas por troca. As pessoas que se levantaram contra a propriedade, no dia seguinte, tiveram que afirmar isso, encontrando-se no mercado como produtores independentes. Este é o caminho de todas as revoluções não-letarianas. Esta é a conclusão lógica do ideal dos anarquistas que, descartando os sinais externos da lei burguesa – compulsão estatal e estatutos – mantêm sua essência interna: contrato livre entre produtores independentes. [38]
Assim, apenas o desenvolvimento do mercado inicialmente torna possível e necessária a transformação do homem, que se apropria de objetos por meio de mão-de-obra (ou roubo), em um proprietário legal.
A Karner oferece outra concepção de propriedade. De acordo com sua definição:
de jure nada mais é do que o poder da pessoa A sobre o objeto N, a simples relação do indivíduo com um objeto da natureza, que não envolve nenhum outro indivíduo (nosso itálico – E.P.) e nenhum outro objeto; um objeto é um objeto privado, o indivíduo uma pessoa privada; o direito um direito privado. Esta é, de fato, a questão no período de simples produção de mercadorias. [39]
Toda esta citação é um amplo mal-entendido. Karner reproduz aqui seu mundo preferido de Robinson Crusoé. Mas quão significativamente podem os dois Robinson Crusoes, nenhum dos quais sabe da existência do outro, imaginar legalmente sua relação com os objetos quando essa relação é totalmente esgotada pela relação factual? Este direito de um homem isolado merece ser colocado ao lado do famoso valor “de um copo d’água no deserto”. Tanto o valor de troca quanto a lei da propriedade são gerados por um mesmo fenômeno: a circulação de produtos que se tornaram mercadorias. A propriedade no sentido legal apareceu não porque as pessoas decidiram atribuir esta qualidade legal, mas porque podiam trocar mercadorias apenas tendo vestido a personalidade de um proprietário. A “autoridade ilimitada sobre uma coisa” é apenas um reflexo da circulação ilimitada de mercadorias.
Karner afirma que “um proprietário decide cultivar uma relação legal de propriedade por meio da alienação”. [40] A Karner não acha que “o legal” começa a partir deste “cultivo”, e até sua aquisição não vai além dos limites do natural ou orgânico?
A Karner concorda que “a compra, venda, empréstimo e aluguel existiam antes, mas com uma esfera de ação mínima objetiva e subjetiva”. No entanto, estas formas legais de circulação de bens econômicos existiam tão antes que encontramos uma formulação clara das relações de aluguel, empréstimo e depósito antes que a própria fórmula de propriedade fosse desenvolvida. Só isto já fornece a chave para a compreensão adequada da natureza jurídica da propriedade.
Pelo contrário, parece à Karner que as pessoas eram proprietários independentes antes de se comprometerem, comprarem e venderem objetos. Estas relações lhe parecem meramente “instituições auxiliares e secundárias que preenchem as lacunas da propriedade pequeno-burguesa”. Em outras palavras, ele procede da idéia de indivíduos totalmente isolados que (não está claro para que propósito) decidiram criar uma “vontade geral”, e em nome dessa vontade geral ordenar a cada um que se abstenha de infrações sobre um objeto pertencente a outro. Então, considerando que o proprietário não poderia ser tratado como universalista, nem em termos de seu poder de trabalho nem como consumidor, esses Robinson Crusoes isolados decidem complementar a propriedade com as instituições de compra e venda, empréstimos, aluguel, etc. Este esquema artificial coloca o verdadeiro desenvolvimento de objetos e conceitos em sua cabeça.
O vínculo entre um homem e um objeto que ele mesmo produziu ou ganhou, ou que figurativamente (como armas, ou decoração) constitui parte de sua personalidade, sem dúvida emerge historicamente como um dos elementos no desenvolvimento da instituição da propriedade privada. Ela representa sua forma inicial bruta e limitada. A propriedade privada obtém seu caráter aperfeiçoado e universal somente com a transformação para uma mercadoria ou, melhor dizendo, para uma economia capitalista de mercadoria. Torna-se indiferente ao objeto e corta toda conexão com qualquer união orgânica de pessoas (grupo de parentesco, família, comuna). Aparece no sentido mais geral como “uma esfera externa de liberdade” (Hegel), ou seja, como a realização prática da capacidade abstrata de ser sujeito de direitos.
Nesta forma puramente legal, a propriedade tem logicamente pouco em comum com o princípio orgânico ou cotidiano da apropriação privada, seja como resultado de esforços pessoais ou como uma condição de consumo e uso pessoal. Na medida em que o vínculo entre o homem e o produto de seu trabalho, ou, por exemplo, entre o homem e uma parcela de terra que ele cultivou com seu trabalho pessoal, é em si algo elementar, acessível ao pensamento mais primitivo [41]; nessa medida, a relação do proprietário com a propriedade é abstrata, formal, artificial e racional desde o momento em que toda a realidade econômica começou a ser reduzida à esfera do mercado. Se, morfologicamente, estas duas instituições – a apropriação privada, como condição de uso pessoal livre, e a apropriação privada como condição de alienação posterior e atos de troca – têm uma conexão direta uma com a outra, no entanto, logicamente estas são duas categorias separadas, e a palavra propriedade que as cobre introduz mais confusão do que clareza. A propriedade capitalista da terra não assume nenhuma conexão orgânica entre a terra e seu proprietário; pelo contrário, é possível somente na condição de total liberdade de transferência de terra de mão em mão, e liberdade de transações com a terra.
A propriedade capitalista é essencialmente a liberdade de transformar o capital de uma forma para outra, e de movê-lo de uma esfera para outra para receber a máxima renda não conquistada. Esta liberdade de dispor da propriedade capitalista é impossível com a presença de indivíduos privados de propriedade, ou seja, de proletários. A forma jurídica da propriedade não contradiz o fato de expropriação de propriedade de um número significativo de cidadãos. Pois a qualidade de ser um sujeito de direitos é uma qualidade puramente formal. Ela qualifica todas as pessoas como igualmente dignas de propriedade, mas não as torna de forma alguma proprietárias de propriedade. A dialética da propriedade capitalista é maravilhosamente retratada no Capital de Marx, tanto onde penetra nas formas “imóveis” da lei, como onde as perturba por coerção direta (o período de acumulação primitiva). Neste sentido, o estudo de Karner fornece muito poucas novidades em comparação com o primeiro volume do Capital. Quando Karner tenta ser independente, ele introduz a confusão. Já notamos isso com relação às suas tentativas de abstrair a propriedade do elemento que legalmente a constitui, ou seja, da troca. Este conceito puramente formal implica em outro erro. Tendo considerado a transferência de pequenos bens burgueses para bens capitalistas, Karner afirma: “A instituição da propriedade alcançou amplo desenvolvimento, experimentou plena transformação, sem ter mudado sua natureza jurídica”, e no mesmo lugar ele conclui: “a função social das instituições jurídicas muda, mas sua natureza jurídica não muda”. [42] Pode-se perguntar: que instituição Karner tem em mente? Se ele está discutindo a fórmula abstrata do direito romano, é claro que nada nela pode mudar. Mas esta fórmula regulamentou a propriedade em pequena escala somente no período do desenvolvimento das relações burguesas-capitalistas. Se nos voltarmos para o artesanato de guild ou para a economia camponesa na era do apego dos camponeses à terra, então encontramos toda uma série de normas limitando o direito de propriedade. É claro que se pode objetar que todas essas limitações têm um caráter de direito público e não afetam a instituição da propriedade como tal. Por outro lado, as guildas feudais, ou seja, formas orgânicas de propriedade, já haviam revelado suas funções a extração do trabalho não remunerado de outrem. [43] Portanto, podemos chegar a uma conclusão oposta à de Karner, que “as normas mudam e sua função social permanece inalterada”.
Em proporção ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, o proprietário é gradualmente liberado das funções técnicas de produção, mas ao mesmo tempo ele perde a totalidade do domínio legal sobre o capital. Em uma sociedade anônima, o capitalista individual é meramente o portador de uma determinada parcela da renda não auferida. Sua atividade econômica e jurídica, como proprietário, é limitada exclusivamente à esfera do consumo não-produtivo. A massa básica do capital torna-se uma força de classe totalmente impessoal. Na medida em que participam da circulação no mercado, o que supõe a autonomia de suas partes separadas, essas partes aparecem como propriedade de pessoas jurídicas. De fato, o círculo relativamente pequeno dos maiores capitalistas pode dispor dela agindo através de seus representantes ou agentes contratados. A forma juridicamente distinta da propriedade privada não reflete agora a posição real dos objetos, pois com a ajuda de métodos de participação e controle, o domínio real vai muito além dos limites puramente legais. Aqui chegamos ao momento em que a sociedade capitalista já está suficientemente madura para se transformar em sua antítese. O pré-requisito político necessário para isso é a revolução de classes do proletariado.
Entretanto, como a experiência tem mostrado, a produção e distribuição planejada e organizada pode não substituir a circulação do mercado, e o vínculo de mercado entre as economias individuais no dia seguinte à revolução. Se isto fosse possível, então a forma legal de propriedade estaria, naquele momento, finalmente esgotada em termos históricos. Ela teria completado o ciclo de seu desenvolvimento tendo retornado ao ponto de partida, a objetos de uso individual direto, ou seja, ter-se-ia tornado novamente uma relação de vida elementar. E com ela a forma de direito em geral seria condenada à morte. [44] Até que a tarefa de construção de uma única economia planejada seja realizada, enquanto o vínculo de mercado entre empresas individuais e grupos de empresas permanecer, a forma de direito também permanecerá em vigor por este tempo. Não estamos falando agora do fato de que a forma da propriedade privada permaneça quase inalterada no período de transição no contexto dos meios e instrumentos de produção da economia camponesa e artesanal de pequena escala. Mas nas relações da grande indústria nacionalizada, a aplicação do princípio de responsabilidade econômica significa a formação de unidades autônomas cuja conexão com outras economias é estabelecida através do mercado.
Na medida em que as empresas estatais estão subordinadas às condições de circulação, o vínculo entre elas é formado não na forma de subordinação técnica, mas na forma de troca. Assim, torna-se possível e necessário um procedimento puramente legal, ou seja, judicial, para regular as relações; no entanto, junto com isto, preservou-se, e com o passar do tempo, sem dúvida, será fortalecida, direta, ou seja, a gestão técnico-administrativa através do procedimento de subordinação ao plano econômico geral. Assim, por um lado, temos a vida econômica fluindo em categorias naturais, e os laços sociais entre unidades de produção representados em sua forma racional, desmascarada (não-modelo) – a isto corresponde o método de instruções diretas, ou seja, instruções de conteúdo técnico na forma de programas, planos de produção e distribuição etc., instruções específicas que mudam constantemente dependendo da mudança das condições. Por outro lado, temos o vínculo entre unidades econômicas expresso na forma do valor das mercadorias em circulação e, portanto, na forma legal de troca. A isto, por sua vez, corresponde a criação de fronteiras formais mais ou menos firmes e constantes e as regras das relações jurídicas entre sujeitos autônomos (códigos civis e possivelmente também comerciais), e de agências que implementam este comércio na prática por meio de decisões de disputas (tribunais, comissões de arbitragem etc.). É óbvio que a primeira tendência não inclui qualquer possibilidade de florescimento da arte jurídica. Sua vitória gradual significará o gradual murchamento da forma jurídica em geral. É possível, naturalmente, objetar que o programa de produção, por exemplo, é também uma norma jurídica pública, pois procede da autoridade estatal, goza de força coercitiva, cria direitos e deveres, etc. Naturalmente, até o momento em que a nova sociedade será construída a partir dos elementos da antiga, ou seja, por pessoas que entendem as relações sociais apenas como “um meio para seus propósitos privados”, mesmo as simples instruções tecnicamente racionais adotarão a forma de um poder alienado do homem e que está acima dele. O homem político ainda será, expresso nas palavras de Marx, “um homem artificial abstrato”. Mas quanto mais radicalmente as relações anteriores, e a psicologia anterior nesta esfera de produção, forem ultrapassadas, mais rápido será a hora daquela emancipação final, que Marx discute em seu artigo Sobre a Questão Judaica.
Somente quando o verdadeiro homem individual perceberá em si mesmo o cidadão abstrato, e como homem individual se tornará um ser universal em sua vida empírica, em seu trabalho individual, em suas relações individuais, então quando o homem reconhecer e organizar suas forças propres (esforços pessoais) como forças sociais, e portanto, quando ele não mais separar as forças sociais na forma de força política de si mesmo, somente então a emancipação humana será completada. [45]
Estas são as perspectivas de um futuro sem limites. Com relação ao nosso período de transição, deve-se observar o seguinte. Se, na era da dominação do capital financeiro impessoal, a real oposição dos interesses dos grupos capitalistas individuais (dispondo de seu próprio capital e de outros) continuar a ser preservada, o capitalismo de estado proletário elimina a real oposição de interesses com a indústria nacionalizada e preserva a separação da autonomia das organizações econômicas individuais (semelhante às empresas privadas) apenas como um método. Assim, aquelas relações econômicas quase privadas que se formam entre o Estado e a indústria e a pequena economia de trabalho, e também entre empresas individuais e combinações de empresas dentro da própria indústria estatal, são colocadas em limites estritos, que a qualquer momento específico são definidos pelos sucessos alcançados na esfera da construção planejada. Portanto, durante nosso período de transição, a forma da lei como tal não esconde aquelas possibilidades ilimitadas que foram abertas para ela pela sociedade capitalista burguesa no início de seu nascimento. Pelo contrário, ela nos vincula temporariamente a seus horizontes estreitos. Ela existe apenas para finalmente se esgotar.
A tarefa da teoria marxista consiste em verificar esta conclusão geral, e pesquisá-la em material histórico concreto. O desenvolvimento pode não prosseguir igualmente em várias áreas da vida social. Portanto, é necessário um trabalho meticuloso de observação, comparação e análise. Mas somente então, quando estudamos o tempo e as formas de relações de valor ultrapassadas na economia e, junto com ela, o murchamento dos elementos do direito privado e da superestrutura legal, e finalmente a expulsão gradual da própria superestrutura legal, somente então podemos dizer a nós mesmos que explicamos pelo menos um aspecto do processo de criação da cultura sem classes do futuro.
CAPÍTULO V: A lei e o Estado
As relações jurídicas por sua “natureza” não assumem uma condição de paz, assim como a troca inicialmente não excluía o assalto à mão armada, mas foi acompanhada por ele. O direito e a violência – conceitos aparentemente opostos – de fato estão ligados uns aos outros da maneira mais próxima. Isto é verdade não apenas para as eras antigas do direito romano, mas também para as eras posteriores. O direito internacional moderno inclui uma dose muito sólida de auto-ajuda, repressão, represálias, guerra, etc. Mesmo dentro dos limites do estado burguês “desenvolvido”, a realização de um direito é conduzida na opinião de um jurista tão capaz como Hauriou, por cada cidadão “sob sua responsabilidade e risco”. Marx se expressou ainda mais acirradamente: “a lei do clube é no entanto lei”. Nisto não há nada de paradoxal porque a lei, como a troca, é um método de relacionar elementos sociais atomizados. O grau desta separação pode ser historicamente mais ou menos, mas nunca é igual a zero. Assim, por exemplo, as empresas pertencentes ao Estado soviético de fato cumprem uma tarefa geral; mas trabalhando pelos métodos do mercado, cada uma delas tem seu próprio interesse distinto, se opõem como compradores e vendedores, agem sob sua responsabilidade e risco e, portanto, necessariamente devem estar em uma relação jurídica. A vitória final da economia planejada os colocará exclusivamente em uma relação técnico-expediente que destruirá sua “personalidade jurídica”. Assim, se a relação jurídica nos é apresentada como uma relação organizada e ordenada – equiparando assim a lei à ordem jurídica – então, ao fazê-lo, esquece-se que, de fato, a ordem jurídica é apenas uma tendência e um resultado final (e, além do mais, longe de aperfeiçoada), mas nunca o ponto de partida e a suposição de uma relação jurídica. A própria condição de paz, que parece universal e homogênea ao pensamento jurídico abstrato, estava longe disso nos estágios iniciais do desenvolvimento jurídico. A antiga lei alemã conhecia vários graus de paz: paz sob o teto de uma casa, paz dentro dos limites de uma cerca, e os limites de um assentamento, etc. Um maior ou menor grau de pacificação encontrava sua expressão em uma maior ou menor severidade de punição prevista para a violação da paz.
Uma condição de paz torna-se necessária quando a troca assume a natureza de um fenômeno regular. Nesses casos, quando havia poucos pré-requisitos para a preservação da paz, as partes envolvidas na troca preferiram não se encontrar uma com a outra, mas ver as mercadorias na ausência uma da outra. Mas, em geral, a troca exige que não só as mercadorias, mas também as pessoas se encontrem. Na era da vida do clã, todo forasteiro era considerado como um inimigo e era tão indefeso quanto uma fera selvagem. Somente o costume da hospitalidade tornou possível o relacionamento com outras tribos. Na Europa feudal, a Igreja tentou limitar as guerras privadas ininterruptas, proclamando a chamada paz de Deus (para tempos específicos). Ao mesmo tempo, as feiras e mercados locais começaram a gozar de privilégios especiais a esse respeito. Os comerciantes que iam ao mercado recebiam passagem segura especial, sua propriedade era garantida por apropriação arbitrária; ao mesmo tempo, a execução dos contratos era salvaguardada por juízes especiais. Assim, foi criado um ius mercatorum ou ius fori especial, que então estava na base do direito da cidade.
Inicialmente, os mercados e as feiras constituíam uma parte do patrimônio feudal e eram simplesmente itens lucrativos e produtivos. O presente da paz de uma feira em algum lugar tinha o propósito de encher a tesouraria de algum proprietário feudal e, conseqüentemente, tinha o objetivo de efetivar o interesse privado deste último. No entanto, como a autoridade feudal atuava como a garantia da paz necessária para as transações de câmbio, ela assumiu um novo traço, antes pouco característico, o de natureza pública. A autoridade de tipo feudal ou patriarcal conhece as fronteiras entre o privado e o público. As leis públicas do senhor feudal, com respeito ao vilão, eram ao mesmo tempo seus direitos como proprietário privado. Pelo contrário, seus direitos privados podiam ser interpretados, quando desejados, como direitos políticos, ou seja, direitos públicos. Assim, o ius civile da Roma antiga era interpretado por muitos, por exemplo Gumplowicz, como lei pública, uma vez que sua fonte básica pertencia a uma organização clã. De fato, neste caso, encontramos uma forma jurídica que ainda não havia desenvolvido as definições de privado e público, opostas e correlacionadas internamente. A autoridade, portanto, com os traços das relações patriarcais ou feudais, caracteriza-se ao mesmo tempo pela predomínio do elemento técnico sobre o jurídico. O legal, ou seja, a interpretação racional do fenômeno da autoridade, torna-se possível somente com o desenvolvimento do câmbio e da economia monetária. Estas formas econômicas trazem consigo um antagonismo que com o tempo assume a natureza de algo eterno e natural e se torna a base de todo ensinamento jurídico sobre autoridade.
O estado “moderno” (no sentido burguês) nasce no momento em que o grupo ou organização de classe da autoridade inclui em seus limites uma relação de mercado suficientemente ampla. Assim, em Roma, o intercâmbio com estrangeiros, viajantes e outros exigia o reconhecimento da capacidade jurídica civil para pessoas não pertencentes à união de parentesco. Isto já supunha a diferenciação entre o direito público e o privado.
O exercício factual da autoridade obtém uma clara natureza jurídica da autoridade pública quando, junto com ela, e independentemente dela, surgem relações ligadas a atos de intercâmbio, ou seja, relações privadas por excelência. Atuando como um fiador dessas relações, a autoridade se torna social, autoridade pública, autoridade que busca o interesse ou a ordem impessoal.
O Estado como uma organização de dominação de classe, e como uma organização para a condução de guerras externas, não requer interpretação legal e, em essência, não a permite. É aqui que a chamada raison d’etat (o princípio da conveniência nua e crua) rege. Pelo contrário, a autoridade como garantidora do intercâmbio de mercado não só pode ser expressa em termos de lei, mas ela mesma aparece como lei e somente lei, e se funde inteiramente com a norma objetiva abstrata. Portanto, toda teoria jurídica do Estado que deseja abraçar todas as funções deste último, necessariamente parece inadequada. Ela pode ser um verdadeiro reflexo de todos os fatos da vida estatal, mas dá apenas um reflexo ideológico, ou seja, distorcido da realidade.
A dominação de classe, tanto em sua forma organizada como não organizada, é muito mais ampla do que a área que pode ser designada como a autoridade oficial do poder estatal. A dominação da burguesia se expressa na dependência do governo dos bancos e grupos capitalistas, na dependência de cada trabalhador individual de seu empregador, e no fato de que o pessoal do aparato estatal está pessoalmente ligado à classe dominante. Todos estes fatos, e o número deles pode ser multiplicado sem limite, não têm qualquer expressão legal oficial. Mas de forma misteriosa eles correspondem em seu significado aos fatos que encontram sua expressão legal oficial, e se representam como a subordinação dos mesmos trabalhadores às leis do Estado burguês, às ordens e decretos de seus órgãos, aos veredictos de seus tribunais, etc. Junto com a denominação de classe direta e indireta, cresce uma denominação indireta refletida na forma de autoridade oficial do Estado como uma força especial separada da sociedade. Com isso surge o problema do Estado, que não apresenta menos dificuldades para análise do que o problema das mercadorias.
Engels considera o Estado como uma expressão do fato de que a sociedade está irremediavelmente enredada em contradições de classe; “para que essas classes opostas com interesses econômicos antagônicos”, diz ele, “não se devorassem umas às outras e a sociedade em luta sem esperança, pois isso se tornou necessário, um poder aparentemente acima da sociedade, um poder que moderou o conflito, e o manteve dentro dos limites da ‘ordem’. E este poder que surge da sociedade, mas que se coloca acima dela, e se afasta cada vez mais dela, é o Estado”. [46] Nesta explicação há uma passagem que não é totalmente clara, e que se revela mais tarde quando Engels fala do fato de que o poder estatal evolui naturalmente nas mãos da classe mais forte, “que, com a ajuda do Estado, se torna a classe politicamente dominante”. Esta frase fornece uma razão para pensar que o poder estatal não é gerado como poder de classe, mas como algo que está acima das classes e que salva a sociedade da dissolução, e que somente após seu surgimento o poder estatal se torna objeto de usurpação. É claro que tal entendimento contradiria os fatos históricos; sabemos que os aparatos políticos foram criados em todos os lugares pelas forças da classe dominante, e foram o trabalho dessa classe. Pensamos que o próprio Engels também propôs tal interpretação, mas, no entanto, essa pode ser sua fórmula ainda não está clara. O Estado surge porque de outra forma as classes teriam se exterminado mutuamente em uma luta intensificada, e assim a própria sociedade teria perecido. Assim, o estado surge quando nenhuma das classes em luta pode obter uma vitória decisiva. Isto significa uma de duas coisas: ou o Estado fortalece esta relação – então é a força acima das classes, e isto não podemos reconhecer – ou é o resultado da vitória de uma classe, mas neste caso a necessidade de um Estado desaparece da sociedade já que, com a vitória decisiva de uma classe, o equilíbrio é estabelecido e a ‘sociedade’ é salva. Por trás de todas estas controvérsias esconde-se uma questão básica: por que o domínio de uma classe não se torna o que ela é, ou seja, a subordinação real de uma parte da população a outra, mas assume a forma de autoridade oficial do Estado? Ou, o que é o mesmo, por que o aparelho de coerção estatal é criado não como um aparelho privado da classe dominante, mas distinto deste último sob a forma de um aparelho impessoal de poder público distinto da sociedade? [47] Não podemos nos limitar a uma referência ao fato de que para a classe dominante é conveniente empregar uma máscara ideológica e esconder seu domínio de classe atrás da tela do Estado. Embora esta referência seja inteiramente indiscutível, não explica, no entanto, por que esta ideologia pode ser criada e, consequentemente, por que uma classe dominante pode usá-la. O uso consciente de formas ideológicas não é o mesmo que sua origem, que geralmente não depende da vontade das pessoas. Mas, se quisermos explicar as raízes de alguma ideologia, devemos procurar as relações reais que ela expressa. Aqui, por acaso, encontramos a diferença fundamental entre a interpretação teológica e jurídica da autoridade do Estado. Na medida em que, em primeira instância – a deificação da autoridade – estamos lidando com um fetichismo desenfreado e, consequentemente, com as impressões e conceitos correspondentes, não conseguimos revelar nada além da duplicação ideológica da realidade, ou seja, daquelas relações reais de autoridade e subordinação. Nessa medida, a concepção jurídica é meramente uma concepção tendenciosa, e suas abstrações expressam um dos aspectos da sociedade realmente existente, ou seja, da sociedade produtora de mercadorias.
A opinião defende que a base da concorrência dominante no mundo burguês-capitalista não oferece a possibilidade de conectar o poder político com a empresa individual, da forma como sob o feudalismo este poder estava ligado a grandes latifúndios. “A liberdade de competição, a liberdade da propriedade privada, a ‘igualdade’ no mercado e a garantia de existência para uma classe, criam uma nova forma de democracia de poder estatal, que coloca no poder a classe como um coletivo”. [48] Embora seja mais verdade que a “igualdade” no mercado cria uma forma específica de autoridade, no entanto, esta conexão entre estes fenômenos não é inteiramente como o camarada Podvolotsky a vê. Primeiro, a autoridade pode não estar ligada a uma empresa individual, mas, no entanto, continua sendo um assunto privado de organizações capitalistas. As associações de industriais, com seus cofres de guerra, listas negras, boicotes e patrulhas de greve, são sem dúvida agências de autoridade existentes junto com o público, ou seja, a autoridade estatal. Em segundo lugar, a autoridade dentro da empresa continua sendo um assunto privado de cada capitalista individual. O estabelecimento das regras de ordem interna é um ato de legislação privada, ou seja, uma verdadeira peça do feudalismo, por mais que os juristas burgueses tenham tentado vesti-la com roupas modernas. Introduzindo a ficção do chamado contrato de adesão (contrato de adesão pela autorização extraordinária que o proprietário capitalista recebe, alegadamente, dos órgãos do poder público para o “cumprimento bem sucedido das funções da empresa necessárias e expeditas deste ponto de vista social”.
Entretanto, a analogia com as relações feudais não é aqui incondicionalmente exata, pois, como Marx indica:
a autoridade que o capitalista goza como personificação do capital no processo direto de produção, e a função social com a qual é investido como gerente e mestre de produção, são essencialmente diferentes da autoridade que surge com base na produção de escravos, servos, etc. Com base na produção capitalista, a massa de produtores diretos é confrontada pela natureza social de sua produção na forma da mais estrita autoridade reguladora, pois o mecanismo social de seu processo de trabalho se desenvolveu em uma hierarquia completa; no entanto, os detentores dessa autoridade a utilizam apenas como personificação das condições de trabalho, em contraste com o próprio trabalho, e não como mestres políticos ou teocráticos como acontecia em formas anteriores de produção. [49]
Assim, sob os meios capitalistas de produção, podem existir relações de subordinação e autoridade não alienadas da forma concreta em que aparecem como a dominação das condições de produção sobre os produtores. Mas o próprio fato de não atuarem de forma mascarada, como sob a escravidão e a servidão, as torna elusivas para os juristas.
O aparato estatal na verdade se percebe como uma “vontade geral” impessoal, como “a autoridade da lei” etc., na medida em que a sociedade aparece como um mercado. No mercado, cada vendedor e comprador é, como vimos, um sujeito jurídico por excelência. Para que as categorias de valor e valor de troca apareçam no palco, o pré-requisito é a vontade autônoma dos que se envolvem em troca. O valor de troca deixaria de ser valor de troca, e uma mercadoria deixaria de ser uma mercadoria, se a relação de troca fosse determinada por uma autoridade situada acima das leis inerentes ao mercado. A coerção, como o comando de uma pessoa dirigida a outra e apoiada pela força, contradiz a suposição básica de troca entre os proprietários da mercadoria. Portanto, em uma sociedade de proprietários de mercadorias, a função da coerção pode não aparecer como uma função social, pois não é abstrata nem impessoal. Subordinação à pessoa como tal, ao homem como indivíduo concreto, significa para a sociedade produtora de mercadorias subordinação ao poder arbitrário, porque corresponde à subordinação de um proprietário de mercadoria por outro. Mesmo a coerção, portanto, não pode aparecer aqui em sua forma desmascarada como um ato de conveniência. Deve aparecer como coerção procedente de alguma pessoa abstrata e geral, como coerção exercida não no interesse do indivíduo de quem procede – para cada pessoa na sociedade de mercadorias é um egoísta – mas no interesse de todos os participantes em transações legais. A autoridade de uma pessoa sobre outra é exercida como a autoridade da própria lei, ou seja, como a autoridade de uma norma imparcial objetiva.
O pensamento burguês, para o qual a estrutura da produção de mercadorias é a estrutura eterna e natural de todas as sociedades, declara, portanto, a autoridade abstrata do Estado como sendo um atributo de toda sociedade.
Isto foi expresso mais ingenuamente pelos teóricos da lei natural, que, baseando seus ensinamentos na autoridade na idéia de relações sexuais entre personalidades independentes e iguais, propuseram que ela procedesse a partir dos princípios das relações sociais como tal. Na verdade, eles apenas desenvolveram as diferentes maneiras pelas quais a idéia de autoridade vinculava os proprietários independentes de mercadorias um ao outro. Isto explica as características básicas da doutrina que aparece claramente em Grotius. No mercado, os principais fatores são os proprietários de mercadorias que participam da troca. O sistema de dominação é algo derivado, secundário, algo imposto externamente aos proprietários de mercadorias existentes. Portanto, os teóricos da lei natural consideram a autoridade não como um fenômeno que surgiu historicamente e que está ligado às forças ativas em uma determinada sociedade, mas como abstrato e racional. No intercâmbio entre proprietários de mercadorias, a necessidade de coerção autoritária surge quando a paz foi quebrada, ou quando um contrato não foi executado voluntariamente. A doutrina da lei natural, portanto, reduz as funções de autoridade à manutenção da paz, e declara o propósito exclusivo de um Estado ser um instrumento da lei. Finalmente, no mercado um homem é dono de uma mercadoria pela vontade de outros homens, e todos são donos de uma mercadoria por sua vontade comum. A teoria do direito natural deriva assim o Estado a partir do contrato entre personalidades individuais e isoladas. Este é o esqueleto da doutrina que admite muitas variações concretas, dependendo da situação histórica, simpatias políticas e habilidades dialéticas de um autor ou de outro. Esta teoria admite tendências republicanas e monárquicas e diversos graus de democratismo e revolucionismo.
Em geral e em sua totalidade, no entanto, esta teoria foi a bandeira revolucionária sob a qual a burguesia conduziu sua batalha revolucionária com a sociedade feudal. E isto determinou o destino da teoria. Desde quando a burguesia se tornou a classe dominante, o passado revolucionário do direito natural começou a ser problemático para ela, e o mais rápido possível as teorias dominantes apressaram-se em relegar o passado para os arquivos da história. Escusado será dizer que a teoria do direito natural não suporta a menor crítica histórica ou sociológica, pois ela dá uma imagem totalmente inadequada da realidade. Mas a principal curiosidade consiste no fato de que a teoria jurídica do Estado, que tomou seu lugar em nome do positivismo, distorce a realidade em nada menos que um grau. Ela é forçada a fazer isto para cada teoria jurídica do Estado deve necessariamente proceder do Estado como uma força independente e distinta da sociedade. Isto está no que consiste sua natureza jurídica.
Portanto, embora de fato a atividade da organização estatal ocorra na forma de ordens e decretos provenientes de pessoas individuais, a teoria jurídica presume, em primeiro lugar, que o Estado, não as pessoas, dá ordens e, em segundo lugar, que suas ordens estão subordinadas a normas gerais de direito que também expressam a vontade do Estado.
Neste ponto, a doutrina da lei natural não difere por um iota em sua ficção de qualquer das teorias jurídicas mais positivistas do Estado. Para a doutrina do direito natural, o argumento básico era que junto com todos os tipos de dependência real de um homem sobre outro (esta doutrina era isenta de tal dependência), havia ainda um outro tipo de dependência da vontade geral impessoal, a saber, a vontade do Estado.
Mas é apenas esta construção que constitui a base da teoria jurídica do Estado como pessoa. Os elementos do direito natural nas teorias jurídicas do Estado são muito mais profundos do que pareciam aos críticos da doutrina do direito natural. Eles estão enraizados no próprio conceito de autoridade pública, ou seja, de autoridade colocada acima de tudo e dirigida a todos. Ajustando-se a este conceito, a teoria jurídica inevitavelmente perde sua conexão com a realidade. A diferença entre a doutrina do direito natural e o positivismo jurídico mais recente é apenas que a primeira sentiu muito mais claramente a ligação lógica entre a autoridade estatal abstrata e o sujeito abstrato. Ela tomou estas relações mistificadas de uma sociedade produtora de mercadorias, em seu contexto necessário, e portanto produziu um modelo da clareza clássica das construções. Pelo contrário, o chamado positivismo legal não leva nem mesmo em conta suas próprias premissas lógicas.
O Rechtsstaat é uma miragem, mas uma miragem muito útil para a burguesia, pois substitui a ideologia religiosa em extinção. Ele esconde das massas o fato da regra da burguesia. A ideologia do Rechtsstaat também é mais útil do que a ideologia religiosa porque, não refletindo a totalidade da realidade objetiva, ela depende dela. A autoridade como “a vontade geral”, como “a autoridade do direito”, é realizada na sociedade burguesa, na medida em que esta última é um mercado. Deste ponto de vista, até mesmo um estatuto policial pode nos parecer como a incorporação das idéias de Kant sobre uma liberdade que é limitada pela liberdade de outro.
Os proprietários livres e iguais de mercadorias reunidos no mercado são livres e iguais apenas na relação abstrata entre comprador e vendedor. Na vida real, eles estão ligados uns aos outros por muitas relações de dependência. Estes são os comerciantes e o grande atacadista, o camponês e o proprietário do patrimônio, o devedor arruinado e seu credor, o proletário e o capitalista. Estas inúmeras relações de dependência real constituem a verdadeira base da organização do Estado. Entretanto, para a teoria jurídica do Estado é como se elas não existissem. Além disso, a vida do Estado é baseada na luta entre várias forças políticas, ou seja, de classes, partidos e todos os agrupamentos possíveis; aqui estão ocultas as verdadeiras fontes da máquina estatal; para a teoria jurídica, elas são igualmente inacessíveis. É claro que um jurista pode mostrar uma maior ou menor flexibilidade em sua adaptação aos fatos, por exemplo, levando em conta o direito escrito além das regras não escritas que foram formadas na prática estatal, mas isto não muda sua posição fundamental em relação à realidade. Existe uma inevitável divergência entre a prova legal e aquela prova que constitui o objetivo da pesquisa histórica e social. Não se trata apenas de que a dinâmica da vida social subverta a rígida forma jurídica e que, portanto, o jurista está condenado a estar um pouco atrasado em sua análise; mesmo limitando-se ao próprio dia de um fato, o jurista comunica sua análise de forma diferente do sociólogo. Para o jurista, permanecendo como jurista, procede do conceito do Estado como uma força independente e distinta de todas as outras forças individuais e sociais. Do ponto de vista histórico e político, as decisões de uma classe influente, ou organização partidária, têm o mesmo significado e às vezes até maior do que as decisões do parlamento ou de alguma outra instituição estatal. Do ponto de vista jurídico, os fatos do primeiro tipo são aparentemente inexistentes. Pelo contrário, em qualquer decreto do parlamento, uma vez abandonado o ponto de vista jurídico, é possível ver não um ato do Estado, mas uma decisão adotada por um determinado grupo, um grupo de pessoas movido pelos mesmos motivos individuais egoístas ou de classe que qualquer outro coletivo. O normativista extremista Kelsen conclui a partir disto que o Estado em geral existe apenas como um objeto imaginário – um sistema fechado de normas ou obrigações. Mas, é claro, tal esterilidade no assunto da teoria do direito estatal deve impedir a prática de advogados. Pois se não por inteligência, então por instinto, eles sentem o significado prático indubitável de seus conceitos neste mundo pecaminoso e não apenas no reino da lógica pura. O “estado” dos juristas, apesar de toda essa “ideologização”, relaciona-se com alguma realidade objetiva, já que o sonho mais fantástico, no entanto, depende da realidade.
Esta realidade é, em primeiro lugar, o próprio aparelho estatal, com seus elementos materiais e pessoais. Antes de criar teorias completas, a burguesia começou a construir o estado na prática. Na Europa Ocidental, este processo começou nas comunas das cidades. Numa época em que o mundo feudal não conhecia nenhuma diferença entre os bens do senhor feudal e os bens da união política, a tesouraria pública da cidade apareceu primeiro nas cidades, originalmente como uma instituição esporádica e depois como uma instituição permanente; “o espírito de estatismo” recebeu, por assim dizer, seu fundamento material.
O aparecimento de formas estatais torna possível o aparecimento de pessoas que vivem dessas formas, funcionários e burocratas. Na era feudal, as funções da administração e do tribunal eram cumpridas pelos servos do senhor feudal. Nas comunas da cidade, eles apareceram pela primeira vez em cargos públicos; no sentido pleno da palavra, a natureza pública da autoridade encontrou sua encarnação material. A monarquia absoluta tinha apenas que adotar a forma pública que havia tomado forma nas cidades e realizá-la dentro de um território mais amplo. Todas as outras melhorias ao estado burguês – que procedia tanto por explosões revolucionárias quanto pela adaptação pacífica aos elementos monárquicos-feudais – podem ser resumidas em um princípio: nenhuma das duas pessoas que trocam no mercado pode aparecer como um regulador autorizado da relação de troca; para isto, é necessária uma terceira pessoa que encarna a garantia mútua que os proprietários de mercadorias como proprietários dão um ao outro, e que é, portanto, a regra personificada da troca entre proprietários de mercadorias.
A burguesia colocou este conceito jurídico do Estado na base de sua teoria, e tentou realizá-lo na prática. Certamente fez esta última, guiada por este princípio elementar. [50]
Em nome da pureza teórica, a burguesia nunca esqueceu o outro lado da questão, ou seja, que a sociedade de classes não é apenas um mercado onde os proprietários independentes de mercadorias se encontram, mas também uma arena de guerra de classes intensificada na qual o aparato estatal é uma das armas mais poderosas. E nesta arena as relações formadas estão longe de estar no espírito da definição kantiana da lei como a limitação da liberdade do indivíduo e o limite mínimo necessário para a vida em comum. Aqui Gumplowicz está profundamente certo quando afirma que “lei deste tipo nunca existiu, pois a quantidade de liberdade é determinada apenas pela quantidade de autoridade de outro, a norma da existência comum é ditada não pela possibilidade de existência comum, mas pela possibilidade de autoridade”. O Estado como elemento de força na política interna e externa é a correção que a burguesia teve que fazer em sua teoria e prática do Rechtsstaat. Quanto mais instável a autoridade da burguesia se tornava, mais comprometedora se tornava sua correção, mais o Rechtsstaat se transformava em uma sombra incorpórea, até que finalmente a intensificação extrema da luta de classes forçou a burguesia a descartar completamente a máscara do Rechtsstaat e a revelar a essência da autoridade como a força organizada de uma classe contra outra.
CAPÍTULO VI: Lei e Moralidade
As pessoas devem se relacionar como personalidades independentes e iguais para que os produtos do trabalho humano se relacionem uns com os outros como valores.
Se uma pessoa está sob o domínio de outra, ou seja, é um escravo, seu trabalho deixa de ser o criador e a substância de valor. A força de trabalho de um escravo, assim como a força de trabalho de um animal doméstico, apenas transforma uma parte definida do custo de sua produção, e reprodução, em um produto.
Nesta base, Tugan-Baranovsky conclui que a economia política pode ser entendida partindo da idéia ética norteadora do valor absoluto e, portanto, da equivalência entre as personalidades humanas. Marx, naturalmente, chega à conclusão oposta, na medida em que conecta a idéia ética de igual valor das personalidades humanas com a forma de uma mercadoria, ou seja, ele a deriva da equivalência prática de todas as formas de trabalho humano.
De fato, o homem como sujeito moral, ou seja, como personalidade igual, nada mais é do que um pré-requisito de troca de acordo com a lei do valor. O homem como sujeito de direitos é um tal pré-requisito, ou seja, como proprietário de propriedade. Finalmente, estas duas definições estão intimamente ligadas a um terceiro homem como um sujeito econômico egoísta.
Todas as três definições não são redutíveis uma à outra, e são até mesmo contraditórias por assim dizer. Elas refletem a totalidade das condições necessárias para a realização da relação de valor, ou seja, uma relação na qual os laços entre as pessoas no processo de trabalho aparecem como a natureza material dos produtos que estão sendo trocados.
Se se abstrair estas definições das relações sociais reais que elas refletem, e tentar desenvolvê-las como categorias independentes, ou seja, por pura razão, então como resultado obtém-se um emaranhado de contradições e proposições que se excluem mutuamente. Mas na relação de troca real, estas contradições estão dialecticamente unidas em uma totalidade.
A parte da troca deve ser egoísta, ou seja, ser guiada por um cálculo econômico nu, caso contrário a relação de valor não pode aparecer como uma relação socialmente necessária. A parte que troca deve ser portadora de um direito, ou seja, ter a possibilidade de tomar uma decisão autônoma, pois sua vontade deve “estar embutida nos objetos”. Finalmente, a parte trocadora deve incorporar o princípio básico da igualdade de todas as personalidades humanas, pois em troca todos os tipos de trabalho são equiparados e reduzidos a trabalho humano abstrato.
Assim, estes três elementos (ou, como era preferível chamá-los antes, três bases): egoísmo, liberdade e o valor supremo da personalidade, estão inextricavelmente ligados um ao outro, aparecendo como uma totalidade para ser a expressão racional de uma mesma relação social. O sujeito egoísta, o sujeito de um direito e a personalidade moral são as três máscaras básicas sob as quais o homem aparece na produção de mercadorias. A chave para a compreensão das estruturas jurídicas e morais é fornecida pela economia das relações de valor, não apenas no sentido de seu conteúdo real, mas também no sentido de sua própria forma A idéia do princípio do valor e da igualdade da personalidade humana tem uma longa história: através da filosofia estóica ela entrou no uso de juristas romanos e no ensino da Igreja Cristã, e depois na doutrina do direito natural. Mas o que quer que fosse que revestisse esta idéia, nada mais se podia descobrir nela do que uma expressão do fato de que os diferentes tipos concretos de trabalho socialmente útil eram reduzidos ao trabalho em geral, na medida em que os produtos do trabalho começavam a ser trocados como mercadorias. Em todas as outras relações, a desigualdade social (sexual, de classe, etc.) é tão evidente na história que se deve questionar não a abundância de argumentos contra a doutrina da lei natural da igualdade social, mas que até Marx ninguém colocava a questão das origens históricas deste preconceito contra a lei natural. Se no decorrer dos séculos o pensamento humano voltou com tanta ênfase à tese da igualdade social, e a desenvolveu de mil maneiras, então é claro que alguma relação objetiva deve ser escondida por trás desta tese. Não há dúvida de que o conceito de personalidade moral ou igualitária é uma formação ideológica, e como tal não descreve adequadamente a realidade. O sujeito egoísta e econômico não é menos uma distorção ideológica da realidade. No entanto, ambas as definições são adequadas para apenas uma relação social específica, e a refletem apenas de forma abstrata e, portanto, unilateral. Já tivemos ocasião de declarar que o conceito ou palavra “ideologia” não deve nos impedir de uma análise mais aprofundada. Ficar satisfeito com o fato de que um homem é igual a outro é a progênie de uma ideologia destinada a simplificar demais o problema. “Abaixo” e “acima” nada mais são do que conceitos que expressam nossa ideologia “terrena”. Entretanto, a gravidade da Terra é sua base factual. Quando o homem entendeu a verdadeira razão que o fez distinguir “para baixo de para cima” – ou seja, a força da gravidade dirigida para o centro da Terra – então ele atingiu os limites dessas definições, e sua inadequação como aplicada a toda a realidade cósmica. Assim, a descoberta de que estes conceitos eram ideológicos foi outro aspecto do processo de descoberta de que eles eram verdadeiros.
Se a personalidade moral nada mais é do que o sujeito da produção de mercadorias, então a lei moral deve se revelar como a regra de troca entre os proprietários de mercadorias. Isto inevitavelmente produz uma dualidade. Por um lado, esta lei deve ter um caráter social e, como tal, estar acima da personalidade individual. Por outro lado, o proprietário da mercadoria é inerentemente o portador da liberdade (liberdade de se apropriar e alienar), portanto a regra que rege o intercâmbio entre os proprietários da mercadoria deve ser declarada no espírito de cada um deles, e cada um deve interiorizar esta lei. O imperativo categórico kantiano sintetiza estas exigências contraditórias. Ele está acima do indivíduo porque não tem nada em comum com nenhum desejo natural – medo, simpatia, piedade, sentimento de solidariedade, etc. Nos termos de Kant, não assusta, não convence, não lisonjeia. É geralmente externo a todos os motivos empíricos, ou seja, puramente humanos. Ao mesmo tempo, parece ser independente de todas as pressões externas no sentido direto e rude da palavra. Ela age exclusivamente em virtude da realização de sua universalidade. A ética kantiana é a ética típica de uma sociedade produtora de mercadorias, mas ao mesmo tempo é uma forma pura e aperfeiçoada de ética em geral. Kant deu um teor logicamente completo à forma que a sociedade burguesa atomizada tentou encarnar na prática, libertando a personalidade dos laços orgânicos do período patriarcal e feudal.
Os conceitos básicos de moralidade não fazem sentido se os abstemos da produção de mercadorias e tentamos aplicá-los a alguma outra estrutura social. O imperativo categórico não é um instinto social. O objetivo básico do imperativo é agir onde nenhuma motivação natural ou orgânica supra-individual é possível. Quando os indivíduos têm laços emocionais próximos que apagam o limite do eu, então o fenômeno da obrigação moral pode não ocorrer. Para compreender esta última categoria é necessário proceder não a partir da conexão orgânica que existe, por exemplo, entre a vaca e o bezerro, ou entre a tribo e cada um de seus membros, mas a partir da condição de alienação. A existência moral é um complemento necessário à vida jurídica – ambos são métodos de troca entre os produtores de mercadorias. Todos os imperativos categóricos pathos dos Kantian são reduzidos ao fato de que o homem “livremente”, ou seja, por persuasão voluntária, age sob coação da lei. Os próprios exemplos que Kant acrescenta para a ilustração de seus pensamentos são típicos. Eles são reduzidos inteiramente à manifestação da respeitabilidade burguesa. O heroísmo e as explorações não têm lugar dentro do imperativo categórico kantiano. O sacrifício pessoal não é necessário porque um não exige sacrifício dos outros. Os atos “sem sentido” de penitência e esquecimento, em nome do cumprimento do chamado histórico, ou das funções sociais, ações nas quais o instinto social mais intenso aparece, estão fora da ética, no sentido estrito da palavra.
Schopenhauer, e Vladimir Solov’ev depois dele, definem a lei como um mínimo ético. Seria mais exato definir a ética como um certo mínimo social. O entusiasmo social intensificado é externo à ética e é herdado pelo homem moderno dos períodos iniciais da existência orgânica, e particularmente tribal.
Entretanto, para uma sociedade produtora de mercadorias, a razão ética é a maior conquista possível, e um bem cultural superior do qual se deve falar apenas no tom mais exaltado. É necessário lembrar as conhecidas palavras de Kant:
duas coisas enchem o espírito de sempre novo e crescente assombro e satisfação quanto mais frequente e profundamente pensamos nelas: o céu estrelado acima de minha cabeça e a lei moral dentro de mim. [51]
Além disso, quando a discussão se volta para exemplos de cumprimento “voluntário” do dever moral, no palco aparece apenas a mesma esmola imutável ou uma recusa em mentir quando teria sido possível mentir com impunidade. A razão ética triunfa universalmente sobre instintos sociais poderosos e irracionais. Ela rompe com todos os limites orgânicos e inerentemente estreitos (parentesco, tribo, nação) e se esforça pela universalidade. Neste sentido, ela reflete conquistas sociais materiais definidas, e transforma o intercâmbio em intercâmbio mundial. “Não há Hellas, não há Judaea” – isto reflete a realidade histórica dos povos unidos sob o poder de Roma. Por outro lado, Kautsky aparentemente observa corretamente que a regra “considerar outro como um fim em si mesmo”, só faz sentido quando na prática um homem pode ser submetido a outro. O pathos moral é indissoluvelmente ligado e alimentado pela imoralidade da prática social. As doutrinas éticas pretendiam mudar e corrigir o mundo quando na verdade elas eram apenas um reflexo distorcido de um aspecto dele: aquele em que as relações humanas estavam subordinadas à lei do valor. Não se deve esquecer que a personalidade moral é apenas uma das formas hipostáticas de uma tríade. O homem como um fim em si mesmo é apenas outro aspecto do sujeito econômico egoísta. Um ato que é a encarnação única e real do princípio ético em si mesmo, inclui a negação deste último. O capitalista de grande escala arruína de boa fé o pequeno capitalista, sem por um momento invadir o valor absoluto de sua personalidade. A personalidade de um proletário é “em princípio igual” à personalidade de um capitalista; isto encontra sua expressão no fato do contrato de trabalho “livre”. Mas para o proletário esta mesma “liberdade material” significa a possibilidade de morrer tranquilamente de fome.
Esta ambigüidade da forma ética não é acidental, nem é algum defeito externo causado pelas inadequações específicas do capitalismo. Pelo contrário, esta é uma característica essencial da própria forma ética Eliminar a ambiguidade da forma ética significaria efetuar a transição para uma economia social planejada, e isto significaria realizar um sistema no qual as pessoas possam pensar e construir suas relações usando conceitos simples e claros, tais como dano e benefício. Eliminar a ambigüidade da forma ética na área mais essencial (na área da existência social material) significa destruir por completo esta forma.
O utilitarismo puro, esforçando-se para dispersar a névoa metafísica que envolve as doutrinas éticas, leva a conceituar o bem e o mal a partir da perspectiva do dano e do benefício. Assim, é claro, ele simplesmente destrói a ética, ou melhor, tenta destruí-la e transcendê-la. A transcendência do fetichismo ético, de fato, só pode ser alcançada simultaneamente com a transcendência da mercadoria e do fetichismo legal. As pessoas que são guiadas em suas ações por conceitos claros e simples de dano e benefício exigirão que suas relações sociais sejam expressas ou em termos de valor ou de lei. Até este nível de desenvolvimento histórico ser alcançado pela humanidade, ou seja, até que o legado do período capitalista seja transcendido, o esforço teórico pode meramente proclamar esta libertação pendente, mas não implementá-la na prática. Devemos lembrar as palavras de Marx sobre o fetichismo de mercadorias:
A mais recente descoberta científica de que os produtos do trabalho, na medida em que contêm valor, são apenas um reflexo material do trabalho empregado em sua produção, e que isto constitui um período no desenvolvimento histórico da humanidade, de forma alguma elimina a objetividade material da natureza social do trabalho.
Mas objeta-se que a moralidade de classe do proletariado já esteja liberada de todos os fetiches. O moralmente necessário é o que é benéfico para a classe. Em tal forma, a moralidade não inclui nada absoluto porque o que é útil hoje pode não o ser amanhã. Também não inclui nada místico ou sobrenatural porque o princípio utilitarista é simples e racional.
Não há dúvida de que a moral proletária (ou, mais precisamente, a de seus estratos avançados) perde seu caráter particularmente fetichista, sendo liberada dos elementos religiosos. Mas a moralidade, mesmo totalmente desprovida da mistura de elementos religiosos, permanece moral, ou seja, é uma forma de relação social na qual nem tudo ainda está reduzido ao próprio homem. Se a ligação consciente com uma classe é de fato tão poderosa que as fronteiras do “eu” são, por assim dizer, apagadas, e a vantagem da classe realmente se funde com a vantagem pessoal, então não faz sentido falar do cumprimento do dever moral. Em geral, o fenômeno da moralidade está então ausente. Quando tal fusão não ocorreu, inevitavelmente surge a relação abstrata do dever moral, com todas as conseqüências daí decorrentes. A regra: “agir para a maior vantagem da própria classe” soa idêntica à fórmula de Kant: “agir de modo que sua conduta possa servir ao princípio da legislação universal”. A diferença é que, no primeiro caso, introduzimos uma limitação concreta, e erguemos limites de classe sobre a lógica ética. [52] Mas dentro desses limites, ela permanece em plena força. O conteúdo de classe da ética por si só não elimina suas formas. Temos em mente não apenas a forma lógica, mas também a forma do fenômeno real. Incorporados no proletariado (na coletividade de classe) observamos formalmente os mesmos métodos de realização do dever moral, que são compostos de dois elementos opostos. Por um lado, o coletivo não deixa de utilizar todos os meios possíveis de pressionar seus companheiros para motivá-los em seu dever moral. Por outro lado, o mesmo coletivo qualifica a conduta como moral somente na ausência de pressão motivadora externa. Portanto, estudar a moralidade significa, até certo ponto, estudar a falsidade. A moralidade, como a lei e o Estado, é uma forma de sociedade burguesa. Se o proletariado for obrigado a usá-las, isto não significa de forma alguma a possibilidade de desenvolvimento posterior dessas formas no sentido de preenchê-las com um conteúdo socialista. Eles são incapazes de reter este conteúdo, e devem murchar no decorrer de sua realização. Entretanto, até o final do presente período de transição, o proletariado deve necessariamente utilizar estes formulários herdados da sociedade burguesa em seu interesse de classe, e depois esgotá-los. Para isso, ele deve, acima de tudo, ter um entendimento muito caro, livre de ideologia, da origem histórica dessas formas. O proletariado deve relacionar-se de forma crítica e sóbria não apenas com o estado burguês e com a moral burguesa, mas até mesmo com seu próprio estado e com sua própria moral proletária, ou seja, deve reconhecer a necessidade histórica de sua existência, bem como de seu desaparecimento.
Em suas críticas ao Proudhon, Marx, entre outras coisas, observa que o conceito abstrato de justiça não é de forma alguma um critério absoluto e eterno pelo qual possamos construir um ideal, ou seja, uma relação de troca justa. Isto significaria a tentativa de medir um objeto através de sua própria reflexão. Mas o próprio conceito de justiça é extraído da relação de troca, e não expressa nada fora dela. Essencialmente falando, o próprio conceito de justiça não inclui nada de novo em comparação com o conceito de igualdade social que analisamos acima. Portanto, é ridículo ver qualquer critério independente e absoluto na idéia de justiça. É verdade que em seu uso artístico ela oferece maiores possibilidades de interpretação da desigualdade como igualdade e, portanto, é particularmente útil para obscurecer a forma ética equívoca. Por outro lado, a justiça é o passo pelo qual a ética desce à lei. A conduta moral deve ser “livre”; a justiça deve ser compelida. A conduta moral obrigatória tende a negar sua própria existência; a justiça é abertamente “aplicada” ao homem; ela permite a realização externa e um interesse egoísta ativo em exigir justiça. Aqui são encontrados os principais pontos de contiguidade e divergência entre as formas ética e jurídica.
A troca, ou seja, a circulação de mercadorias, pressupõe que as partes que trocam se reconhecem mutuamente como proprietários. Este reconhecimento, assumindo a forma de convicção interior ou o imperativo categórico, representa o máximo concebível que uma sociedade de produtores de mercadorias pode alcançar. Mas além deste máximo, existe um certo mínimo através do qual a circulação de mercadorias pode fluir sem impedimentos. Para a realização deste mínimo, é suficiente que os proprietários das mercadorias se conduzam como se se reconhecessem uns aos outros como proprietários. A conduta moral é oposta à conduta legal que é caracterizada como tal, independentemente dos motivos que a produzem. Se uma dívida é paga porque “em qualquer caso serei obrigado a pagá-la”, ou porque o devedor considera que é sua obrigação moral fazê-lo, não faz diferença do ponto de vista jurídico. É óbvio que a idéia de coerção externa, tanto em sua idéia quanto em sua organização, constitui um aspecto essencial da forma jurídica. Quando nenhum mecanismo coercitivo foi organizado, e não se encontra dentro da jurisdição de um aparato especial que está acima das partes, ele aparece na forma da chamada “interdependência”. O princípio da interdependência, sob as condições de equilíbrio de poder, representa a base única e, pode-se dizer, a mais instável do direito internacional.
Por outro lado, uma reivindicação legal, distinta de uma reivindicação moral, aparece não na forma de uma “voz interior”, mas como uma demanda externa proveniente de um sujeito concreto que, como regra, é – ao mesmo tempo – portador de um interesse material correspondente. Portanto, o cumprimento de uma obrigação legal assume uma forma externa e quase material de satisfação da demanda e é finalmente divorciado de todos os elementos subjetivos por parte do devedor. O próprio conceito de obrigação legal, portanto, torna-se mais problemático. Se formos totalmente coerentes, é necessário dizer, como faz Binder, que uma obrigação que corresponde a um direito nada tem em comum com o “dever” (Pflicht), mas existe juridicamente apenas como responsabilidade (Haftung); “obrigado” não significa mais do que “respostas com seus bens (ou no direito penal também com sua pessoa) por meio do processo judicial e da execução obrigatória da sentença”. As conclusões de Binder são paradoxais para a maioria dos juristas, e são expressas na fórmula curta: Das Recht verpflichtet rechtlich zu nichts (a lei legalmente não impõe nenhum dever). Na verdade, isto representa apenas a conseqüência de seguir a dicotomia conceitual já estabelecida por Kant. Mas é precisamente esta clareza na demarcação das esferas moral e jurídica, que fornece a fonte das contradições mais insolúveis para a filosofia burguesa do direito. Se a obrigação legal não tem nada em comum com um dever moral “interno”, então a subordinação à lei não pode ser distinguida da subordinação à força per se. Se, por outro lado, se aceita que uma característica essencial do direito é o elemento da obrigação, mesmo do tipo subjetivo mais fraco, então o significado do direito como mínimo socialmente necessário perde lentamente seu significado. A filosofia burguesa do direito se esgota nesta contradição básica, nesta luta sem fim com suas próprias suposições.
Além disso, é interessante que uma mesma contradição aparece essencialmente de duas formas diferentes, dependendo se se fala da relação entre direito e moral ou da relação entre o Estado e o direito. No primeiro caso, quando a independência do direito foi afirmada com relação à moralidade, o direito se funde com o Estado devido à ênfase crescente no elemento de coerção autoritária externa. No segundo caso, quando o direito é contrastado com o Estado, o elemento obrigação (no sentido do gelten alemão, não müssen) – dominação real – inevitavelmente aparece em cena, e temos diante de nós, por assim dizer, uma frente unida de moralidade e direito.
Aqui, como sempre, a contradição do sistema reflete a contradição da vida real, ou seja, aquele ambiente social que criou dentro de si as formas de moralidade e de direito. A contradição entre o indivíduo e o social, entre a parte e o todo, nunca pode ser reconciliada pela filosofia burguesa do direito. Esta contradição constitui a base consciente da sociedade burguesa como uma sociedade de produtores de mercadorias. Isto está corporificado nas relações reais dos sujeitos humanos que podem considerar suas próprias lutas privadas como lutas sociais apenas na forma incongruente e mistificadora do valor das mercadorias.
CAPÍTULO VII: Direito e Violação do Direito
Russkaya Pravda – aquele monumento histórico mais antigo do período Kievan de nossa história – consiste em 43 artigos (o chamado registro acadêmico). Apenas dois artigos não se referem a violações do direito penal ou civil. Os demais artigos ou determinam uma sanção, ou então contêm as regras processuais aplicáveis quando uma lei foi violada. Assim, o desvio de uma norma constitui sempre sua premissa. O mesmo quadro é apresentado pelas chamadas leis bárbaras das tribos alemãs. Por exemplo, na Lei Sálica, apenas 65 dos 408 artigos não têm caráter punitivo. O monumento mais antigo da lei romana – as leis das Doze Tabelas – começa com regras que definem o procedimento para iniciar um litígio: “Si in ius vocat, ni it, antestamino”. Igitur im capito”. (Se um homem é chamado ao tribunal e ele não vai, isto deve ser atestado, e ele deve ser levado para lá).
De acordo com a observação do conhecido historiador jurídico Maine, “é necessário reconhecer como regra que quanto mais antigo o código, mais completo e mais detalhado será sua declaração da seção penal”. [53]
Não observância de uma norma, ou violação da mesma, a interrupção de relações sexuais normais e o conflito que se segue: este é o ponto de partida do conteúdo mais importante da legislação antiga. Por outro lado, o que é normal não é fixado no início como tal – ele apenas existe. A exigência de que o escopo e o conteúdo dos direitos e obrigações mútuos sejam fixos e exatamente estabelecidos, aparece quando a existência calma e pacífica é violada. Desta perspectiva, Bentham tem razão quando afirma que um estatuto cria direitos como cria crimes. Historicamente, a relação jurídica assume seu caráter específico de forma preeminente nos fatos de violações da lei. O conceito de roubo foi definido antes do que o conceito de propriedade privada. As relações de atendimento a um empréstimo eram fixadas quando o mutuário não queria reembolsá-lo: “se alguém tenta recuperar uma dívida e o devedor recusa etc.”. (Russkaya Pravda, Registro Acadêmico, Art. 14). O significado original da palavra pacto não era o de contrato, mas pax, paz, ou seja, uma conclusão amigável à hostilidade, “pacífica” (Vertrag) supõe o fim do “não pacífico” (Unvertraglichkeit).
Assim, se o direito privado reflete diretamente as condições mais gerais de existência da forma jurídica como tal, então o direito penal é a esfera onde a relação jurídica atinge sua intensidade máxima. Aqui, acima de tudo e mais claramente, o elemento jurídico é isolado da vida cotidiana e obtém total independência. A transformação das ações da pessoa concreta na ação de uma parte, ou seja, em um sujeito jurídico, ocorre de forma particularmente clara no processo judicial. A fim de enfatizar a diferença entre atividades cotidianas e expressões de vontade, por um lado, e expressões jurídicas de vontade, por outro, a lei antiga utilizava fórmulas cerimoniais e rituais especiais. O drama do processo judicial criou notavelmente uma vida jurídica separada, contígua ao mundo real.
De todos os tipos de lei é a lei penal que tem a capacidade, por sua própria maneira direta e grosseira, de assumir uma personalidade separada. Esta lei sempre atraiu, portanto, o interesse mais ardente e prático, e as punições por sua violação são geralmente estreitamente associadas umas às outras – assim, o direito penal, por assim dizer, assume o papel do representante do direito em geral. É a parte que substitui o todo.
A origem do direito penal está historicamente ligada ao costume da rixa de sangue. É certo que estes fenômenos são geneticamente próximos uns dos outros, mas uma rixa só se torna totalmente uma rixa quando as multas e punições a seguem, ou seja, mesmo estes estágios posteriores de desenvolvimento, como é freqüentemente observado na história da humanidade, explicam as intimações incluídas nas formas anteriores. Se nos aproximamos dos mesmos fenômenos na direção oposta, não vemos nada além de uma luta pela existência, ou seja, um fato verdadeiramente biológico. Para os teóricos do direito penal, vendo o período posterior, a rixa de sangue corresponde ao ius talionis, ou seja, à base de retribuição igual, sob a qual a vingança de um insulto pelo insultado (ou por sua tribo) eliminou a possibilidade de mais rixas. Na verdade, como Kovalevsky corretamente aponta, as rixas de sangue mais antigas não tinham esta natureza. As guerras intestinas são transmitidas de geração em geração. Um insulto, embora cometido em retribuição, torna-se em si a base para uma nova rixa. Os insultados e seus parentes se tornam – insultos – e assim por diante de uma geração a outra, às vezes até que todos os parentes em luta sejam liquidados. [54]
A briga começa a ser regulada por costume e se transforma em retribuição pela regra do Talic “olho por olho e dente por dente”. Somente então um sistema de composição ou uma multa monetária começa a ser estabelecido ao seu lado. A noção de equivalência, esta primeira idéia puramente jurídica, tem sempre sua fonte na forma de uma mercadoria. Um crime pode ser considerado como um aspecto particular da troca, no qual a troca (relação contratual) é estabelecida post factum, ou seja, após o ato intencional de uma das partes. A relação entre o crime e a punição é reduzida a uma relação de troca. Portanto, Aristóteles, ao discutir o intercâmbio equivalente como um tipo de justiça, divide-o em dois aspectos: equivalência em ações voluntárias e em ações involuntárias. As relações econômicas como compra e venda, empréstimo etc. são classificadas como ações voluntárias; estas incluem vários tipos de crimes invocando a punição como equivalente. A definição de crime como um contrato celebrado contra a vontade de alguém, também pertence a Aristóteles. A punição surge como um equivalente que medeia os danos causados à vítima.
Esta noção foi adotada, como é bem conhecido, por Hugo Grotius. Por mais ingênuas que estas construções possam parecer à primeira vista, elas contêm latentemente muito mais sensibilidade à forma do direito do que as teorias ecléticas dos juristas modernos.
No exemplo da rixa de sangue e da punição podemos observar, com extraordinária clareza, os estágios imperceptíveis pelos quais o orgânico ou biológico está ligado ao legal. Esta fusão é intensificada pelo fato de que o homem não é capaz de renunciar àquilo a que está acostumado, ou seja, a interpretação legal (ou ética) deste fenômeno da vida animal. Ele involuntariamente encontra nas ações dos animais aquilo que é colocado neles, factualmente falando, pelo desenvolvimento posterior, ou seja, pelo desenvolvimento histórico do homem.
De fato, o ato de autodefesa é um dos fenômenos mais naturais da vida animal. Não faz diferença se o encontramos como reação individual de um determinado animal ou como um exercício coletivo em autodefesa. Segundo o testemunho de estudiosos que observam a vida das abelhas, se uma abelha tenta penetrar uma estranha colmeia para roubar mel, então as abelhas que protegem a entrada imediatamente a atacam e começam a sacrificá-la; se ela realmente penetra na colmeia, então a matam imediatamente. Há casos semelhantes no mundo animal quando a reação é separada por um certo intervalo de tempo da circunstância que a instigou. O animal não responde ao ataque imediatamente, mas o deixa para um momento mais adequado. A autodefesa aqui se torna uma rixa no verdadeiro sentido da palavra. Como para o homem moderno a rixa está inseparavelmente ligada à idéia de igual retribuição, não é surpreendente que Ferri, por exemplo, esteja pronto para reconhecer a presença do “instinto jurídico” entre os animais. [55]
De fato, a idéia jurídica, ou seja, a idéia de um equivalente, torna-se plenamente esclarecida e objetivada apenas naquele estágio do desenvolvimento econômico quando se torna a forma padrão de intercâmbio equivalente, ou seja, não no mundo dos animais, mas na sociedade humana. Para isso, não é de forma alguma necessário que a rixa tenha sido inteiramente forçada pelo dinheiro do sangue.
E mesmo quando o dinheiro de sangue é recusado como algo vergonhoso – e tal visão foi dominante por muito tempo entre os povos primitivos – a realização de uma rixa pessoal foi reconhecida como uma obrigação sagrada. O próprio ato de rixa assumiu uma nova forma que não tinha quando ainda não havia uma alternativa. Especificamente, agora incluía uma imagem do único método adequado: a retribuição. A recusa do dinheiro do sangue em forma monetária enfatizava que o dinheiro do sangue era o único equivalente ao sangue derramado anteriormente. A disputa se transforma de um fenômeno puramente biológico em uma instituição legal, na medida em que está ligada à forma de troca equivalente, com valor de troca.
A lei penal da antiguidade enfatiza este vínculo com particular clareza e imediatismo, pois danos à propriedade e danos pessoais são diretamente equiparados a uma ingenuidade que mais tarde é abandonada pela vergonha. Da perspectiva do antigo direito romano não havia nada de surpreendente no fato de que um devedor insolvente pagava com partes de seu corpo (in partes secare), e um culpado de mutilação respondia com seus bens. A idéia de troca equivalente aparece aqui em toda sua estreiteza – sem complicações e não obscurecida por nenhuma circunstância relacionada. Assim, o processo penal também assume o caráter de uma transação comercial. “Devemos”, diz Jhering, “imaginar um mercado no qual muito dinheiro é pedido por um lado e muito pouco é oferecido pelo outro, até que se chegue a um acordo. Uma expressão disto foi pacere, e para o próprio acordo de preço – pacto”. “O dever de um intermediário escolhido por ambas as partes”, acrescenta Jhering, “encontra aqui o seu início”. Na antiga lei escandinava, um intermediário determinava o valor a ser pago pela reconciliação (árbitro no sentido original romano)”. [56]
Com relação às chamadas punições públicas, não há dúvida de que elas foram introduzidas originalmente principalmente por razões fiscais, e que serviram como meio de encher a tesouraria dos representantes da autoridade. “O Estado”, diz Henry Maine, “não recebeu uma multa do réu pelo dano que supostamente teria causado ao Estado, mas ordenou para si mesmo apenas uma certa parte da indenização feita ao autor da ação na forma de justa retribuição pela perda de seu tempo e paz”. [57] Pela história russa sabemos que “justa retribuição pela perda de tempo” foi tão avidamente recolhida pelos príncipes que, segundo testemunho crônico, “a terra russa foi empobrecida por multas e vendas”. Além disso, este fenômeno de roubo judicial foi observado não apenas na antiga Rússia, mas também no império de Carlos Magno. Aos olhos dos antigos príncipes russos, as receitas judiciais não eram diferentes de outros apadrinhamentos concedidos a seus servos, etc. Era possível comprar uma saída da corte de um príncipe pagando uma certa quantia (os bárbaros eram ou multa do Russkaya Pravda).
Entretanto, além da punição pública como fonte de renda, a punição apareceu bastante cedo como um método para garantir a disciplina e como uma grande salvaguarda da autoridade do poder sacerdotal e militar. É bem conhecido que na Roma antiga a maioria dos crimes graves eram, ao mesmo tempo, crimes contra os deuses. Por exemplo, uma das violações mais importantes, para o proprietário de terras, era o movimento deliberado de marcadores de limite. Desde os tempos antigos isto era considerado um crime religioso, e o chefe do culpado era condenado aos deuses. A casta sacerdotal, agindo como guardiã da ordem, perseguia não um ideal, mas um interesse material essencial, pois os bens do culpado eram confiscados para seu uso. Por outro lado, a punição que a organização sacerdotal infligia àqueles que tentavam se apropriar de suas rendas – na forma de desvios de cerimônias e presentes estabelecidos, tentativas de introduzir novos ensinamentos religiosos, etc. – tinha o mesmo caráter público.
A influência da organização sacerdotal (isto é, da Igreja) sobre o direito penal foi sentida no fato de que embora a punição preservasse sua natureza de equivalência ou retribuição, esta retribuição não estava diretamente ligada ao dano ao lesado nem se baseava na reivindicação deste último. De fato, a punição atingiu um significado abstrato mais elevado como punição piedosa. Assim, a Igreja tentou combinar o elemento material de compensação ou dano com o motivo ideológico de expiação e limpeza (expiatio). Assim, tentou construir um mecanismo mais apropriado para manter a disciplina social (isto é, o domínio de classe) do que o previsto por uma lei penal baseada na vingança privada. Indicativas disso foram as solicitações do clero bizantino com relação à introdução da pena capital na Rússia de Kievan.
O mesmo objetivo de manter a disciplina determina a natureza da atividade punitiva de um comandante militar. Este último faz justiça e represália, tanto sobre os povos subjugados quanto sobre suas próprias tropas que haviam planejado um motim, traição, ou que eram simplesmente desobedientes. A notória história sobre Ludwig – que com suas próprias mãos decapitou um soldado desobediente – mostra a natureza primitiva desta represália no período formativo dos estados bárbaros alemães. Em tempos anteriores, a tarefa de manter a disciplina militar havia sido conduzida por uma assembléia popular; com a consolidação e expansão da autoridade monárquica esta função aderiu naturalmente aos monarcas e foi naturalmente identificada com a proteção de seus próprios privilégios. No que diz respeito às ofensas criminais gerais, os reis das tribos alemãs (e também os príncipes da Rússia de Kievan) durante muito tempo mostraram apenas um interesse fiscal em relação a eles.
Este estado de coisas mudou com o desenvolvimento e a consolidação das fronteiras de classe e propriedade. Uma hierarquia espiritual e temporal valorizava a proteção de seus privilégios, na luta com as classes mais baixas e oprimidas da população, como sua primeira prioridade. A decomposição da economia natural e o concomitante aumento da exploração do campesinato, o desenvolvimento do comércio e a organização de um estado de classe, são tarefas diferentes da justiça penal. Neste período, a justiça penal tornou-se menos um método de aumento de renda para as autoridades e mais um método de represálias impiedosas e duras contra “pessoas más”, ou seja, principalmente contra camponeses que fugiram da exploração insuportável por parte dos proprietários e do estado dos proprietários, e contra a população pauperizada, vagabundos, mendigos, etc. A polícia e o aparelho de investigação tiveram que desempenhar o papel principal. A punição tornou-se um método de eliminação física ou de incutir terror. Esta era a era das provações, dos castigos corporais e dos métodos cruéis de punição capital.
Gradualmente, portanto, foi preparada aquela amálgama complexa que agora constitui o direito penal moderno. Podemos discernir facilmente a composição de seus estratos históricos. Em essência (isto é, de um ponto de vista puramente sociológico) a sociedade burguesa apóia seu estado de classe por seu sistema de direito penal e assim mantém a classe explorada em obediência. A este respeito, seus juízes e suas organizações privadas “voluntárias” de grevistas perseguem um e o mesmo objetivo.
A jurisdição penal do estado burguês é o terror de classe organizado. Isto difere apenas em grau das chamadas medidas extraordinárias aplicadas em tempos de guerra civil. Spencer indicou a analogia completa e até mesmo a identidade entre a reação defensiva dirigida contra ataques externos (guerra) e a reação dirigida contra violadores da ordem interna (defesa legal ou judicial). [58] Medidas do primeiro tipo (ou seja, punição criminal) são aplicadas principalmente contra elementos sociais declassés, e medidas do segundo tipo principalmente contra proponentes ativos de uma nova classe rebelando-se contra a autoridade. Este fato não muda a essência da questão, nem a maior ou menor correção e complexidade do procedimento aplicado. A compreensão do verdadeiro significado da atividade punitiva do estado de classe só é possível através da percepção de sua natureza antagônica. As chamadas teorias do direito penal que derivam o princípio da política punitiva do interesse da sociedade como um todo estão ocupadas com a distorção consciente ou inconsciente da realidade. A “sociedade como um todo” existe apenas na imaginação desses juristas. Na verdade, estamos diante de classes com interesses contraditórios e conflitantes. Todo sistema histórico de política punitiva tem a marca do interesse de classe daquela classe que a realizou. O senhor feudal executou camponeses desobedientes e moradores da cidade que se levantaram contra seu poder. As cidades unificadas enforcaram os ladrões-cavaleiros e destruíram seus castelos. Na Idade Média, um homem era considerado um infrator da lei se quisesse se envolver em um comércio sem se juntar a uma guilda; a burguesia capitalista, que mal havia conseguido emergir, declarou que o desejo dos trabalhadores de se juntar a sindicatos era criminoso.
Assim, os interesses de classe imprimem a marca da concretude histórica em cada dado sistema de política punitiva. Somente o desaparecimento total das classes permite a construção de um sistema de política punitiva no qual cada elemento de antagonismo será excluído. Mas a questão permanece se um sistema punitivo ainda é necessário nestas condições.
Se por seu conteúdo e natureza a atividade punitiva autorizada é uma arma para a manutenção do domínio da classe, então em sua forma ela atua como um elemento da superestrutura legal, e está incluída no sistema legal como um de seus ramos. Mostramos acima que a luta nua pela existência adota uma forma jurídica através da introdução do princípio da equivalência. O ato de autodefesa deixa de ser apenas um ato de autodefesa, e se torna uma forma de troca, um tipo de relacionamento que toma seu lugar ao lado de uma troca comercial “normal”. O crime e a punição tornam-se tais (isto é, assumem sua natureza jurídica) com base na transação de resgate. Enquanto esta forma existir, também a luta de classes será conduzida através da lei. Por outro lado, o próprio termo criminoso perderá todo o sentido, na medida em que o elemento da relação de equivalência desaparece dela. [59]
Considerando a natureza da sociedade burguesa como uma sociedade de proprietários de mercadorias, teríamos que supor, a priori, que sua legislação penal era a mais jurídica no sentido que estabelecemos acima. No entanto, encontramos imediatamente certas dificuldades aqui. A primeira dificuldade é o fato de que o direito penal moderno não procede principalmente dos danos causados à vítima, mas da violação da norma estabelecida pelo Estado. Uma vez que a vítima e sua reivindicação caiem em segundo plano, então se pergunta, onde está a forma de equivalência? Mas, em primeiro lugar, não importa até onde a vítima recua para o passado, ela não desaparece, mas continua a constituir o cenário no qual a ação penal é executada. A abstração de um interesse público violado repousa sobre a figura totalmente real da vítima, que participa do processo – pessoalmente ou através de representantes – e que dá a este processo um significado vivo. Além disso, mesmo quando a vítima concreta de fato não existe, quando “meramente um estatuto” é assaltada, esta abstração implica sua real encarnação na pessoa do promotor público. Esta divisão, na qual uma autoridade estatal aparece tanto no papel de uma parte (o promotor) quanto no papel de um juiz, mostra que como forma legal o processo penal é indivisível da figura da vítima exigindo “retribuição”. Portanto, é indistinguível da forma mais geral de acordo. O promotor, como se espera de uma “parte”, pede um “preço alto”, ou seja, uma punição severa; o criminoso busca a leniência, um “desconto”, o juiz decreta “de acordo com a justiça”. Descarte esta forma de acordo, e você privará o processo penal de seu “espírito jurídico”. Imagine por um minuto que o tribunal está realmente ocupado apenas com a consideração de como mudar as condições de vida de uma determinada pessoa – a fim de influenciá-la no sentido da correção, ou a fim de proteger a sociedade dele – e o próprio significado do termo punição evapora. Isto não significa que todo tribunal criminal e procedimento punitivo seja inteiramente privado dos elementos simples e compreensíveis mencionados acima. Mas queremos mostrar que existe uma peculiaridade neste procedimento que não é coberta pelas considerações claras e simples de propósito social. Este é um elemento irracional, mistificante e incoerente, e é o elemento especificamente legal.
Outra dificuldade reside no fato a seguir. O direito penal antigo conhecia apenas o conceito de dano. O crime e a culpa, ocupando um lugar tão eminente no direito penal moderno, estavam ausentes neste estágio de desenvolvimento. Ações conscientes, descuidadas e acidentais eram avaliadas exclusivamente por suas conseqüências. Os costumes dos Francos Sálicos e dos Ossetianos modernos estão no mesmo estágio de desenvolvimento a este respeito. Estes últimos não faziam distinção entre a morte resultante de um golpe com uma faca, e a morte proveniente do fato de que uma pedra foi derrubada de uma colina chutada pelo casco de um touro de outro.
A partir disto, como vemos, não se segue que o conceito de responsabilidade era em si mesmo alheio à lei antiga. Ele era meramente determinado por outro método. No direito penal moderno – de acordo com o individualismo radical da sociedade burguesa – temos o conceito de estrita responsabilidade pessoal. Mas a lei antiga era penetrada pelo princípio da responsabilidade coletiva: as crianças eram punidas pelos pecados de seus pais, e os parentes respondia por cada um de seus membros. A sociedade burguesa dissolve todos os laços primitivos e orgânicos anteriores entre os indivíduos. Ela proclama como sua base: cada homem por si mesmo, e implementa isto de forma mais consistente em todas as áreas, incluindo o direito penal. Em segundo lugar, o direito penal moderno introduziu o elemento psicológico no conceito de responsabilidade e assim lhe deu uma maior flexibilidade. Ela o dividiu em graus: responsabilidade por um resultado previsto (intenção), e responsabilidade por um resultado imprevisto, mas que poderia ter sido previsível (negligência). Finalmente, construiu o conceito de não-imputabilidade, ou seja, a completa ausência de responsabilidade. Entretanto, este novo elemento, o grau de culpa, de forma alguma exclui o princípio de troca equivalente, mas deriva dele e cria uma nova base para sua aplicação. O que significa esta divisão além de um esclarecimento das condições da transação judicial burguesa! A graduação da responsabilidade é a base para a graduação da punição – um novo elemento ideal ou psicológico, se desejado, que é combinado com o elemento material (o dano) e o elemento objetivo (o ato) – a fim de fornecer uma base conjunta para determinar a relação de punição. A responsabilidade é mais pesada para uma ação cometida com intenção e, portanto, ceteris paribus, implica em uma punição mais pesada; se uma ação é cometida negligentemente, a responsabilidade é menos pesada: ceteris paribus, a punição é reduzida; finalmente, se a responsabilidade está ausente (a intenção criminosa não é incontestável), não há punição. Se substituirmos a punição por Behandlung (“método de influência”), ou seja, um conceito juridicamente neutro, médico-pedagógico, chegaremos a resultados muito diferentes, isto porque principalmente estaremos interessados não na proporcionalidade, mas na correspondência das medidas tomadas com os objetivos que são colocados diante dela, ou seja, com os objetivos de proteger a sociedade do criminoso etc. Deste ponto de vista, a relação pode parecer o oposto, ou seja, no caso da menor responsabilidade, as medidas de influência mais intensivas e duradouras podem parecer necessárias.
A idéia de responsabilidade é necessária para que a punição apareça como um método de pagamento. O criminoso responde pelo crime com sua liberdade, e ele responde com uma quantidade de sua liberdade que é proporcional à gravidade do que ele fez. Esta idéia de responsabilidade é desnecessária quando a punição é liberada do caráter de equivalência; e quando nenhum remanescente dela permanece, a punição deixa de ser uma punição no sentido legal da palavra.
A idéia jurídica de responsabilidade não é científica porque leva diretamente às contradições do indeterminismo. Do ponto de vista da cadeia causal que leva a um evento, não há a menor base para preferir um elo aos outros. As ações de um homem que é psicologicamente anormal (irresponsável) são tão condicionadas por uma série de causas, ou seja, herança, condições de vida, ambiente, etc., quanto as ações de um homem normal (responsável). É interessante notar que a punição aplicada como medida pedagógica (ou seja, fora da idéia legal de equivalência) é totalmente alheia a considerações de imputabilidade, liberdade de escolha, etc., e não requer essas idéias. A conveniência da punição na pedagogia – falamos aqui de conveniência no sentido mais geral, independente da seleção de formas, leniência, rigor da punição, etc. – é determinada exclusivamente pela presença da capacidade suficientemente desenvolvida para compreender a conexão entre a própria ação e suas conseqüências desagradáveis, e a retenção desta conexão na mente. Mesmo as pessoas que a lei penal não responsabiliza por seus atos – crianças de uma idade muito jovem, e o psicologicamente anormal – são consideradas responsáveis neste sentido, ou seja, estão sujeitas a influência em uma direção definida.
A punição proporcional à culpa representa principalmente a mesma forma que a vingança relacionada ao dano. Acima de tudo, é caracterizada pela expressão numérica, matemática para “gravidade” da sentença: o número de dias, meses, etc., de privação de liberdade, o valor da multa monetária, privação de vários direitos.
Privação de liberdade – por um prazo definido previamente indicado no julgamento de um tribunal – é a forma específica na qual o modem, ou seja, o direito penal capitalista burguês, realiza a base de uma retribuição equivalente. Este método está profundamente, mas inconscientemente ligado ao conceito de homem abstrato e de tempo abstrato de trabalho humano. Não é por acaso que esta forma de punição cresceu forte e acabou parecendo natural e esperada, no século XIX, ou seja, quando a sociedade burguesa estava plenamente desenvolvida e tinha consolidado todas as suas características particulares. Prisões e masmorras, é claro, existiam mesmo em tempos antigos e na Idade Média, ao lado de outros meios de coerção física. Mas naquela época os prisioneiros eram geralmente confinados até sua morte ou até o pagamento de um resgate.
Uma condição necessária para o aparecimento da noção de que o pagamento por um crime deveria ser feito por uma quantidade previamente determinada de liberdade abstrata, era que todas as formas concretas de riqueza social tivessem que ser reduzidas à forma mais simples e abstrata – ao tempo de trabalho humano. Aqui, sem dúvida, observamos mais um caso afirmando a proteção mútua dos vários aspectos da cultura. O capitalismo industrial, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a economia política de Ricardo e o sistema de encarceramento na prisão – estes são fenômenos do mesmo período histórico.
A equivalência da punição – em sua forma grosseira e manifestamente material como causadora de danos físicos ou a exigência de uma compensação monetária – especificamente por causa dessa grosseria preserva um significado simples e acessível a todos. Mas perde este significado em sua forma abstrata de privação da liberdade por um termo definido, embora continuemos a falar de uma medida de punição proporcional à gravidade do ato.
Portanto, é natural para muitos teóricos do direito penal (principalmente aqueles que se consideram os mais avançados) tentar remover este elemento de equivalência porque ele se tornou claramente inconveniente, e concentrar a atenção nos objetivos racionais da punição. O erro desses criminologistas progressistas é que, ao criticar as chamadas teorias absolutas da punição, eles supõem que são confrontados apenas por falsas visões e pensamentos confusos que podem ser dissolvidos simplesmente pela crítica teórica. Na verdade, a forma inconveniente de equivalência não deriva da confusão de criminologistas individuais, mas das relações materiais da produção de mercadorias, e é nutrida por elas. A contradição entre o objetivo racional de proteção da sociedade – ou de reeducação do criminoso – e o princípio da equivalência da pena, não existe nos livros e nas teorias, mas na própria vida na prática judiciária, na própria estrutura social. Da mesma forma, a contradição entre o fato do vínculo do trabalho social enquanto tal, e a forma inconveniente de expressão desse fato no valor das mercadorias, não existe na teoria, e não nos livros, mas na própria prática social.
Provas suficientes disso são encontradas em vários elementos. Se, na vida social, a punição fosse considerada como um objetivo, então o maior interesse seria despertado pela aplicação da punição e, sobretudo, pelo seu resultado. No entanto, quem negaria que o centro de gravidade do processo penal para a esmagadora maioria – é a sala do tribunal e o momento de pronunciar o veredicto e a sentença?
O interesse que se mostra pelos métodos duradouros de influenciar o criminoso é absolutamente desprezível em comparação com o interesse que se suscita no momento efetivo de se pronunciar o veredicto e a sentença e na determinação da “medida de punição”. As questões da reforma penitenciária são uma questão viva apenas para um pequeno grupo de especialistas; de modo geral, a correspondência da sentença com a gravidade do ato ocupa o centro das atenções. Se, de acordo com o sentimento comum, a equivalência for devidamente determinada pelo tribunal, então o assunto será encerrado aqui, e o destino subsequente do criminoso não tem interesse. “Um estudo sobre a execução da pena”, reclama Krohne, um dos maiores especialistas nesta área, “é o ponto sensível da ciência do direito penal”. Em outras palavras, é relativamente negligenciado. “E, além disso”, continua ele, “se você tem melhores leis, melhores juízes e melhores sentenças, e os funcionários públicos que cumprem essas sentenças não valem nada, então você pode jogar livremente as leis na lata de lixo e queimar suas sentenças”. [60] Mas a autoridade do princípio da equivalência retributiva não é descoberta apenas na distribuição do interesse social. Parece não menos claro na própria prática judicial. Na verdade, que outras bases existem para aquelas sentenças que Aschaffenburg cita em seu livro Crimes e a luta contra eles? Aqui estão apenas dois exemplos de uma longa série: um reincidente, condenado 22 vezes por falsificação, furto, extorsão etc., foi condenado pela 23ª vez a 24 dias de prisão por caluniar um funcionário. Outro, que ao todo passou 13 anos na prisão e na penitenciária (Zuchthaus), tendo sido condenado 16 vezes por extorsão, furto etc., foi condenado (a 17ª vez) por extorsão a 4 meses de prisão. [61] Nesses casos, obviamente não se discute a função protetora ou corretiva da punição. Aqui, o princípio formal de equivalência triunfa: para culpa igual – uma medida igual de punição. E, de fato, o que mais o juiz poderia fazer? Ele não tinha esperança de corrigir uma reincidência confirmada com 3 semanas de detenção, mas também não poderia isolar o prisioneiro para o resto da vida por causa da mera calúnia de um funcionário público. Nada resta a ele senão o pagamento do criminoso em pequenas trocas (um certo número de semanas de privação de liberdade) por um crime menor. Quanto ao resto, a jurisprudência burguesa garante que a transação com o criminoso esteja de acordo com todas as regras da arte, ou seja, que cada um se convença, e verifique se o pagamento é justamente definido (ações judiciais públicas), que o criminoso possa negociar livremente (processo adversário), e que, ao fazê-lo, pode usar os serviços de um perito judicial experiente (admissão da defesa) etc. Resumidamente, o estado conduz sua relação com o criminoso no âmbito de uma transação comercial de boa fé na qual existem, ostensivamente, garantias de processo penal.
O criminoso deve saber de antemão por que deve algo e o que se espera dele: nullum crimen, nulla poene sine lege. O que isto significa? Requer que cada criminoso em potencial seja informado exatamente dos métodos de correção que serão aplicados a ele? Não, a questão é muito mais crua e simples – ele deve saber quanta liberdade irá renunciar como resultado da transação judicial. Ele deve saber de antemão as condições sob as quais o pagamento será exigido dele. Aqui está o significado dos códigos criminais e dos códigos de processo penal.
Não se deve imaginar que no início as falsas teorias de retribuição prevaleceram no direito penal e, mais tarde, o ponto de vista correto da defesa social triunfou. É errado considerar o desenvolvimento como tendo ocorrido apenas no nível das idéias. Na verdade, tanto antes quanto depois do surgimento das tendências sociológicas e antropológicas da criminologia, a política punitiva incluía um elemento de defesa social, ou melhor, de classe. No entanto, junto com isso incluiu, e ainda inclui, elementos que não derivam desse objetivo técnico e, portanto, não permitem que o próprio procedimento punitivo se expresse integralmente e sem que nada permaneça como uma forma racional e não mistificadora de sociotécnico. regras. Esses elementos – cujas origens devem ser buscadas não na própria política punitiva, mas muito mais profundamente – dão um significado real às abstrações jurídicas do crime e da punição e garantem seu pleno significado prático, independentemente de todas as forças da crítica teórica.
Lembramos a exclamação de Van Hamel no congresso de criminologistas de Hamburgo em 1905: o principal obstáculo para a criminologia moderna são os três conceitos “culpa, crime e punição”; “Quando nos libertarmos deles”, acrescentou, “tudo ficará melhor”. Podemos agora responder que as formas de consciência burguesa não serão eliminadas apenas pela crítica ideológica, porque constituem uma unidade com as relações materiais que refletem. A transcendência dessas relações na prática – ou seja, a luta revolucionária do proletariado e a realização do socialismo – é a única maneira de dissipar as miragens que se tornaram realidade.
Proclamar que culpa e culpa são conceitos preconceituosos na prática basta para a transição para uma política punitiva que os tornaria desnecessários. Até o momento em que a forma de mercadoria e a forma jurídica derivada deixem de colocar sua marca na sociedade, a noção essencialmente incoerente (do ponto de vista não judicial) de que a gravidade de cada crime pode ser pesada em uma escala e expressa em meses ou anos de prisão, continuará a preservar sua força e seu real significado na prática judicial.
É possível, naturalmente, abster-se de expressar essa noção em uma formulação tão crua e chocante. Mas isso de forma alguma significa que, portanto, estamos finalmente livres de sua influência na prática. Qual é a parte geral de todo código penal (inclusive o nosso) com seus conceitos de cumplicidade, participação, desprezo, preparação etc., se não é um meio de definir a culpa com mais exatidão? Qual é a distinção entre intenção e negligência, senão uma distinção de um grau de culpa? Que significado tem o conceito de irresponsabilidade se o conceito de culpa não existe? Finalmente, por que a parte especial do código é necessária se o assunto é apenas sobre medidas de defesa social (de classe)?
Na verdade, a execução consistente do princípio da defesa social não exigiria a fixação de conjuntos individuais de elementos de crime (com os quais as medidas de punição estão amplamente vinculadas e definidas por lei ou pelos tribunais). No entanto, isso exigiria uma descrição clara dos sintomas que caracterizam uma condição socialmente perigosa e o desenvolvimento dos métodos que devem ser necessariamente aplicados em cada caso específico para a defesa social.
Obviamente, a questão não é apenas que, como algumas pessoas pensam, uma medida de defesa social está ligada em sua aplicação a momentos subjetivos (forma e grau de perigo social), enquanto a punição repousa em um momento objetivo, isto é, o conjunto concreto de elementos de crime previsto na parte especial do código. A importância está no caráter dessa associação. É difícil separar a pena de uma base objetiva, porque ela não pode descartar a forma de equivalência sem perder seu caráter básico. No entanto, apenas a estrutura concreta de um crime fornece algo como uma quantidade mensurável e, portanto, algo como um equivalente. Pode-se fazer um homem pagar por uma ação, mas não faz sentido fazê-lo pagar pelo fato de que a sociedade o reconheceu (ou seja, o sujeito dado) como perigoso. Portanto, a punição pressupõe um conjunto exatamente fixo de elementos em um crime. Uma medida de defesa social não tem necessidade disso. O pagamento por coerção é a coerção legal dirigida a um sujeito colocado no quadro formal de um julgamento, uma sentença e sua execução. A coerção, como medida de defesa, é ato de pura conveniência e, como tal, pode ser regulada por normas técnicas. Essas regras podem ser mais ou menos complexas, dependendo se o propósito é a eliminação mecânica de um membro perigoso da sociedade ou sua correção; mas, em qualquer caso, essas regras refletem clara e simplesmente o objetivo que a sociedade se propôs. Por outro lado, esse objetivo social aparece de forma mascarada nas formas jurídicas que determinam a punição para determinados crimes. A pessoa submetida à coerção é colocada na posição de devedor que paga uma dívida. Isso se reflete no termo “cumprimento de pena”. O criminoso que cumpriu sua pena retorna ao seu ponto de partida, a uma existência social isolada, à “liberdade” de cumprir obrigações e cometer crimes.
O direito penal, como o direito em geral, é uma forma de relacionamento entre sujeitos egoístas e isolados, tendo interesses privados autônomos como proprietários de mercadorias. Os conceitos de crime e punição – como fica claro pelo exposto – são as definições necessárias da forma jurídica. A libertação deles só ocorrerá quando começar o esgotamento geral da superestrutura legal. E na medida em que de fato, e não apenas nas declarações, passemos a transcender esses conceitos e a prescindir deles – este será o melhor sintoma de que para nós, finalmente, os horizontes estreitos do direito burguês estão desaparecendo.
Notas
1*. See J. Hazard (ed.), Soviet Legal Philosophy (1951), Harvard University Press, Cambridge, translated by H. Babb, pp.111-225.
1. É claro que esses conceitos jurídicos mais gerais e mais simples são o resultado do tratamento lógico das normas do direito positivo. Eles representam o mais recente e mais elevado produto da criatividade consciente em comparação com as relações jurídicas formadas aleatoriamente e as normas que as expressam.
2. Pode-se concordar com Karner [o pseudônimo usado por Karl Renner – eds.] Que a ciência do direito começa onde termina a jurisprudência. Mas não se segue daí que a ciência do direito deva simplesmente descartar aquelas abstrações básicas que refletem a essência básica da forma jurídica.
3. Mesmo O Papel Revolucionário do Direito e do Estado (1921 Moscou), do camarada Stuchka, que trata de uma série de problemas da teoria geral do direito, não trata esses conceitos sistematicamente. Sua discussão acentua o conteúdo da aula do desenvolvimento histórico da regulação jurídica em comparação com o desenvolvimento lógico e dialético da própria forma.
4. Deve-se notar que, ao discutir conceitos jurídicos, os autores marxistas referem-se comumente e principalmente ao conteúdo concreto da regulamentação jurídica inerente a um determinado período, ou seja, aquele que as pessoas em um determinado estágio de desenvolvimento consideram ser direito. No entanto, é sem dúvida verdade que a teoria marxista deve estudar não apenas o conteúdo material da regulamentação legal em vários períodos históricos, mas também fornecer uma interpretação materialista da regulamentação legal per se como uma forma histórica definida.
5. Um exemplo de como a riqueza da exposição histórica pode coexistir com o esboço mais incompleto da forma jurídica é encontrado em M. Pokrovsky, Essays on the History of Russian Culture (1923), Moscou, 2ª edição, vol.1, p.16.
6. A lei também é definida como normas coercitivas emitidas pela autoridade do estado no materialismo histórico de Bukharin … Todas essas definições enfatizam a conexão entre o conteúdo concreto da regulamentação legal e a economia. Ao mesmo tempo, entretanto, eles tentam exaurir a forma legal definindo-a como coerção organizada pelo Estado. Em essência, isso não vai mais fundo do que as aplicações empíricas cruas da jurisprudência mais pragmática ou dogmática – cuja derrota deve constituir a tarefa do marxismo.
7. “A economia política começa com as mercadorias, começa no momento em que os produtos são trocados uns pelos outros – seja por indivíduos ou por comunidades primitivas.” F. Engels, Revisão da contribuição de Marx para a crítica da economia política (1859), MESW, vol.1, p.514.
8. K. Marx, Critique of the Gotha Program (1875), MESW, vol.3, p.19.
9. Lenin conclui em Estado e Revolução: “No que diz respeito à distribuição de produtos de consumo, o direito burguês pressupõe inevitavelmente um Estado burguês, porque o direito burguês não é nada sem um aparelho coercitivo capaz de fazer cumprir as normas de direito. Segue-se que por um certo tempo o direito burguês é eficaz sob o comunismo, mas o mesmo ocorre com o estado burguês sem burguesia! ” V.I. Lenin, State and Revolution (1917), LCW, vol.25, p.471.
10. F. Lassalle, The System of Acquired Rights (1861), Leipzig.
11. Ver K. Marx, Introdução à Crítica da Economia Política (1857), em The Grundrisse (1973), tradução e prefácio de M. Nicolaus, Random House, Nova York, p.100.
12. ibid., Pp.104-105.
13. ibid., P.106.
14. ibid., P.105.
15. K. Marx, Capital (1867), International Publishers, New York, 1967, vol.1, p.76.
16. M. Reisner, The State (1911), Moscou, 2ª edição, vol.1, p.xxxv.
17. ibid.
18. Ver a resenha de The Revolutionary Role of Law and State (1921), de Stuchka, do Professor Reisner, Herald of the Socialist Academy, no.1, p.176.
19. cf. V.V. Adoratsky, On the State (1923), Moscow, p.41: “A tremenda influência da ideologia jurídica em todo o sistema de pensamento dos membros cumpridores da lei da sociedade burguesa é explicada pelo papel significativo da ideologia na vida desta sociedade … Uma pessoa que vive na sociedade burguesa é constantemente vista como um sujeito de direitos e obrigações. Todos os dias ele efetua uma infinidade de ações judiciais envolvendo as mais diversas consequências jurídicas. Nenhuma sociedade tem tanta necessidade, portanto, da ideia de direito (em seu uso prático e cotidiano), nem desenvolve essa ideia com tantos detalhes, nem a transforma em um instrumento tão essencial de troca diária, como a sociedade burguesa. ”
20. K. Marx, Capital (1867), op. cit., vol.1, p.81.
21. G. Shershenevich, The General Theory of Law (1910), Moscou, p.274.
22. A língua russa, aliás, deriva as designações “lei em vigor” e “lei em vigor” da mesma raiz. Em alemão, a distinção lógica é facilitada pelo uso de dois verbos muito diferentes: wirken (no sentido de efetivamente, ou sendo realizado) e gelten (no sentido de ser significativo, ou seja, logicamente relacionado a uma proposição normativa mais geral) .
23. O ponto de vista aqui expresso de forma alguma significa uma negação da vontade de classe como fator de desenvolvimento, uma abjugação da interferência planejada no curso do desenvolvimento social, “economismo”, fatalismo e outras coisas terríveis. Uma ação política revolucionária pode realizar muito; pode realizar para amanhã aquilo que não existe hoje, mas não pode causar aquilo que de fato não existia no passado. Por outro lado, se afirmamos que a intenção de construir um edifício – e mesmo a planta do edifício – ainda não é a própria edificação, não se segue daí que nem a intenção nem o plano sejam essenciais para a construção. do edifício. Mas quando o assunto não foi além do plano, não podemos afirmar que o edifício foi construído.
24. No entanto, é necessário declarar que a atividade sócio-reguladora pode operar sem normas previamente fixadas. O fato da chamada legislação judicial nos convence disso. Seu significado é particularmente claro naqueles períodos em que a promulgação centralizada de leis era geralmente desconhecida. Para os antigos juízes alemães, portanto, o conceito de uma norma dada externamente era inteiramente estranho. Coleções de regras de todos os tipos não eram, para o Schoffengericht, leis vinculativas, mas um dispositivo heurístico pelo qual formavam suas próprias opiniões. Ver J. Stintzing, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft (1880), vol.I, p.39.
25. K. Marx e F. Engels, The Holy Family, or a Critique of Critical Criticism (1844), em Marx e Engels Collected Works (1975), Progress Publishers, Moscou, vol.4, pp.120-121.
26. Em seu comentário sobre o Código Civil da RSFSR, Goikhbarg enfatiza que os juristas burgueses avançados ainda se recusam a considerar a propriedade privada como uma lei subjetiva arbitrária, mas a veem tanto como direitos do indivíduo quanto como obrigações positivas em relação ao todo. Em particular, Goikhbarg confia em Duguit. Duguit afirma que um proprietário de capital deve ser defendido pela lei somente porque e na medida em que ele cumpre uma função socialmente útil ao fornecer uma aplicação correta de seu capital.
A declaração de Duguit – de que um proprietário será protegido apenas quando cumprir uma obrigação social – não tem sentido em tal forma geral. Para o estado burguês, é hipócrita; para o Estado proletário, é a ocultação dos fatos. Pois, se o Estado proletário pudesse atribuir diretamente a cada proprietário sua função social, o teria feito, retirando do proprietário o direito de dispor de sua propriedade. E, uma vez que não pode fazer isso economicamente, isso significa que é compelido a proteger os interesses privados como tais – e que só pode estabelecer certos limites quantitativos para eles. Seria ilusório afirmar que cada X que acumulou certa quantidade de dinheiro está protegido por nossas leis e tribunais simplesmente porque forneceu, ou fornecerá, uma aplicação socialmente útil para o dinheiro acumulado. Mas o camarada Goikhbarg esquece a propriedade capitalista nesta, sua forma mais abstrata (ou seja, monetária), e ele argumenta como se o capital só existisse na forma material concreta de capital produtivo. Os aspectos anti-sociais da propriedade privada podem ser paralisados apenas de fato, ou seja, pelo desenvolvimento de uma economia planejada socialista às custas do mercado. Mas nenhuma fórmula, mesmo que derivada dos mais avançados juristas ocidentais, pode transformar todas as transações concluídas com base em nosso Código Civil em outras socialmente úteis, e cada proprietário em uma pessoa que cumpre funções sociais. Essa transcendência verbal da economia privada e do direito privado apenas obscurecerá as condições de sua transcendência real.
27. K. Marx, Capital (1867), op. cit., vol.1, p.84.
28. O homem é uma mercadoria (ou seja, um escravo) apenas quando adota o papel de distribuidor de mercadorias – de objetos – e quando, ao se tornar um participante na troca, atinge o status efetivo de sujeito. Sobre os direitos dos escravos de realizar transações segundo a lei romana, ver I.A. Pokrovsky, História do Direito Romano (1915), Petrogrado, vol.2, p.294. Por outro lado, quando um homem livre (isto é, um proletário) busca um mercado para a venda de sua força de trabalho na sociedade moderna, ele é tratado como um objeto e cai sob a lei de emigração com as mesmas proibições, cotas etc., que outras mercadorias transportados através da fronteira do estado.
29. K. Marx, Capital (1867), op. cit., vol.1, p.84.
30. J. Fichte, Rechtslehre (1812), Leipzig, p.10.
31. O desenvolvimento do direito da guerra nada mais é do que a consolidação gradual do princípio da inviolabilidade da propriedade burguesa. Até a época da Revolução Francesa, a população era roubada sem impedimentos ou restrições, tanto por seus próprios soldados quanto pelo inimigo. Benjamin Franklin proclamou pela primeira vez (1785) como princípio político que nas guerras futuras “camponeses, artesãos e mercadores devem continuar suas ocupações pacificamente sob a proteção de ambas as partes beligerantes”. Rousseau, em seu Contrato Social, afirma a regra de que a guerra é travada entre Estados, mas não entre pessoas. A legislação do Covenant pune estritamente os roubos cometidos por soldados tanto em seu próprio país quanto no de um país inimigo. Somente em Haia, em 1899, os princípios da Revolução Francesa foram elevados à categoria de direito internacional. Além disso, a justiça exige que se observe que Napoleão, ao declarar um bloqueio continental, sentiu um certo constrangimento e considerou necessário, em seu discurso ao Senado, justificar esta medida “que afeta os interesses de particulares por causa de uma disputa entre estados ”E“ relembrando a barbárie dos tempos antigos ”; na última guerra mundial, os estados burgueses, sem qualquer constrangimento, violaram os direitos de propriedade dos cidadãos dos países em guerra.
32. H. Dernburg, Pandekten (1906), Moscou, vol.1, p.39.
33. Na Alemanha, isso ocorreu apenas quando o direito romano foi recebido, o que é provado, inter alia, pela ausência de uma palavra alemã para a expressão dos conceitos de “pessoa” (persona) e “sujeito de direitos”. Veja O. Gierke, Geschichte des deutschen Korperschaftsbegriffs (1873), Berlin, p.30.
34. ibid., P.35.
35. ibid., P.34.
36. A. Hauriou, Principes du droit public (1910), Paris, p.286.
37. ibid., P.287.
38. Por exemplo, Proudhon declara: “Quero um contrato e nenhuma lei. Para que eu seja livre, devemos reconstruir toda a ordem social com base no contrato mútuo ”. No entanto, acrescenta mais tarde: “As normas pelas quais o contrato deve ser cumprido não dependerão exclusivamente da justiça, mas também da vontade comum das pessoas que participam da vida em comum, vontade que deve obrigar ao cumprimento do contrato mesmo com coerção . ” Ver P.J. Proudhon, Idée générale de la révolution (1851), Paris, X, pp.138, 293.
39. K. Renner, As Instituições de Direito Privado e suas Funções Sociais (1949), Routledge e Kegan Paul, Londres, pp.266-267.
40. ibid., P.268.
41. Os defensores da propriedade privada, portanto, apelam avidamente a essa relação elementar, porque sabem que seu poder ideológico excede muitas vezes seu significado econômico para a sociedade moderna.
42. K. Renner (1949), op. cit., p.252.
43. A propriedade sob a produção de mercadorias simples, que Karner contrasta com a forma capitalista de propriedade, é uma abstração tão pura quanto a própria produção de mercadorias simples. A transformação de até mesmo parte dos produtos em mercadorias e a aparência de dinheiro constituem uma condição suficiente pelo surgimento do capital usurário – na expressão de Marx, aquela “forma antediluviana de capital” que, junto com seu gêmeo (capital mercantil), “antecede em muito o modo de produção capitalista e pode ser observada em várias formações socioeconômicas”. Veja K. Marx, Capital (1967), op. cit., vol.3.
44. A intensificação da transcendência da forma jurídica seria reduzida à transição gradual do método equivalente de distribuição – quantidades definidas de produtos para quantidades definidas de trabalho – para a realização da fórmula do comunismo desenvolvido: “de cada um de acordo com as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades ”.
45. K. Marx, On the Jewish Question (1843), em Karl Marx: Early Writings (1975), apresentado por L. Colletti, Penguin and New Left Review, p.234.
46. F. Engels, A Origem da Família, Propriedade Privada e o Estado (1884), MESW, vol.3, p.327.
47. Em nosso tempo de intensificação da luta revolucionária, podemos observar como o aparato oficial do estado burguês fica em segundo plano em comparação com os “guardas voluntários” dos fascistas e de sua laia. Isso mostra mais uma vez que quando o equilíbrio social é rompido, ele então “busca a salvação”, não pela criação de “uma autoridade acima das classes”, mas pela pressão máxima das forças das classes em luta.
48. I. Podvolotsky, The Marxist Theory of Law (1923), Moscou, p.33.
49. K. Marx, Capital (1867), op. cit., vol.3, p.881.
50. A burguesia inglesa, que antes de outras conquistou para si o domínio dos mercados mundiais, e que se sentia invulnerável por causa de sua posição insular, poderia ir mais longe do que outras na prática do Rechtsstaat. As ações mais consistentes com base na lei nas relações mútuas entre autoridade e sujeito isolado, e a garantia mais efetiva de que os titulares da autoridade não transgredissem seu papel de personificação de uma norma objetiva, foi a subordinação dos órgãos do Estado à jurisdição de um tribunal independente (não da burguesia, é claro). O sistema anglo-saxão é, à sua maneira, a apoteose da democracia burguesa. Mas, por assim dizer, se piorar em outras condições históricas, a burguesia fará as pazes com um sistema que poderia ser batizado como um sistema de “separação da propriedade do Estado”, ou um sistema de cesarismo. Neste caso, a camarilha dominante, por sua arbitrariedade despótica ilimitada (tendo duas direções: interna, contra o proletariado, e externa, expressa em uma política imperialista), cria o pano de fundo para a “autodeterminação livre do indivíduo” nas trocas civis .
51. I. Kant, Kritik der practischen Vernunft (1914), edição alemã, p.96.
52. Nem é preciso dizer que em uma sociedade dilacerada pela luta de classes, a ética sem classes pode existir apenas na imaginação, mas de forma alguma na prática. O trabalhador, tendo decidido fazer greve – apesar das privações a que esta participação lhe está associada – pode formular esta decisão como um dever moral de subordinar os seus interesses pessoais aos interesses gerais. Mas é claro que este conceito de interesse geral pode não incluir também os interesses do capitalista contra o qual a luta é travada.
53. H. Maine, Ancient Law (1873), edição russa traduzida por N. Belozersky, p.288.
54. cf. M. Kovalevsky, Modern Custom and Ancient Law (1886), Petersburgo e Moscou, pp. 37-38.
55. E. Ferri, Criminal Sociology (1900), edição russa traduzida e com um prefácio de Dril ‘, vol.2, p.37.
56. R. Jhering, The Spirit of Roman Law (1875), edição russa, vol.1, p.118.
57. H. Maine, Ancient Law (1873), op. cit. p.269.
58. H. Spencer, Principles of Sociology (1883), edição russa, p.659.
59. Assim, o direito penal é parte integrante da superestrutura jurídica na medida em que incorpora uma das variedades daquela forma básica a que está subordinada a sociedade moderna: a forma de troca equivalente com todas as consequências que dela decorrem. A concretização dessa relação no direito penal é um dos aspectos do Rechtsstaat como forma ideal de relacionamento entre produtores independentes e iguais de commodities que se encontram no mercado. Mas, uma vez que as relações sociais não se limitam às relações abstratas entre proprietários de mercadorias abstratas, o tribunal criminal é, portanto, não apenas a personificação da forma jurídica abstrata, mas também uma arma de luta de classes direta. Quanto mais acirrada e intensa esta luta, mais difícil é para uma classe realizar seu domínio por meio da forma jurídica. Nesse caso, o tribunal “imparcial” – com suas garantias – é substituído por uma organização de violência direta de classe, e suas ações são guiadas apenas por considerações de conveniência política.
60. Citado de G. Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekdmpfung (1905), Heidelberg, p.200.
61. ibid., Pp.205-206.
Abreviações
LCW: V.I. Lenin, Collected Works (1960-70), Foreign Languages Publishing House, Moscou, 45 volumes.
MESW: K. Marx e F. Engels, Selected Works (1970), Progress Publishers, Moscou, 3 volumes.
Sochinenii: Vladimir Il’ich Lenin, Sobranie Sochinenii (1920-1926), Moscou, 20 volumes em 26 livros.
Fontes