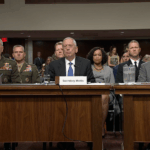Ex-conselheiro de segurança nacional de Trump Monumental e muito discutido de Robert C. O’Brien novo ensaio em Relações Exteriores pode ser o mais próximo que provavelmente chegaremos de um plano de política externa intelectual para um segundo mandato de Trump.
Nos próximos anos, poderá muito bem servir como o modelo de política externa para futuras administrações republicanas. Da mesma forma, o artigo ‘X’ de George F. Kennan (publicado na Foreign Affairs em 1947) e a Orientação de Planejamento de Defesa de Paul Wolfowitz de 1992, também conhecida como Doutrina Wolfowitz, serviram (para melhor, ou, no caso deste último, certamente pior) como modelos em épocas passadas, o ensaio de O’Brien provavelmente definirá os termos do debate sobre política externa, pelo menos durante a lembrança da década – se não além.
O artigo, em consonância com as mudanças nas realidades geopolíticas, é pesado na Ásia e leve na Europa. Reflete também o pensamento de um certo tipo de realista da política externa republicana, exemplificado por pessoas como Elbridge Colby e O’Brien (ambos supostamente no correndo para altos cargos de segurança nacional num segundo mandato de Trump) para quem a China tem grande importância – na verdade, como o concorrente semelhante que os EUA devem preparar-se para enfrentar.
O’Brien escreve que, na sua opinião, “o Congresso deveria ajudar a construir as forças armadas da Indonésia, das Filipinas e do Vietname, estendendo-lhes os tipos de subvenções, empréstimos e transferências de armas que os Estados Unidos há muito oferecem a Israel. ”
O’Brien parece estar a referir-se ao que noutros contextos tem sido referido como o “modelo Israelita” de assistência à segurança dos EUA.
Aqui, e sem o dizer explicitamente, O’Brien parece estar a referir-se ao que noutros contextos tem sido referido como o “modelo Israelita” de assistência à segurança dos EUA. O modelo baseia-se, obviamente, na forma como funciona a assistência de segurança dos EUA a Israel: na ausência de qualquer obrigação de tratado entre as duas nações, os EUA fornecem a Israel doações generosas, garantias de empréstimos, apoio militar, económico e diplomático em troca de (presumivelmente , mas na verdade, quase nunca) cooperação e promoção dos objectivos de segurança nacional americanos na região.
Neste momento, mesmo antes dos ataques de 7 de Outubro, essa garantia é da ordem dos 3,8 mil milhões de dólares por ano.
Recorde-se que, quando a contra-ofensiva ucraniana foi interrompida no final do ano passado, houve muita conversa em Washington sobre como manter a assistência à Ucrânia face à crescente oposição republicana na Câmara. Uma maneira de contornar a suposta oposição (oposição que nunca se materializou de forma significativa) foi flutuou por O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan: o modelo de Israel.
Mas há desvantagens no modelo, especialmente se quisermos seriamente repensar o papel da América no mundo à luz dos desafios extraordinários que enfrentamos agora em casa, incluindo, mas não limitados a, uma crise fronteiriça e uma epidemia de opiáceos que matou mais de 80.000 pessoas no ano passado sozinho.
Com o tempo, a ajuda no modelo israelita torna-se uma parte esperada dos negócios – ainda mais, a ajuda ilimitada (que é basicamente o que significa a ajuda dos EUA a Israel) cria incentivos perversos para que os estados clientes ajam de forma mais imprudente do que de outra forma agiriam. Um exemplo que podemos apontar é quando o Presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, sentiu que tinha o apoio dos EUA para isca os russos numa guerra em 2008.
O que aconteceu no caso de Israel é que, ao longo do tempo, as elites políticas e mediáticas dos EUA apegaram-se à ideia de que a assistência de segurança de Washington não é apenas necessária para a sobrevivência do cliente – mas que de alguma forma podemos dever o cliente suporte ilimitado. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller contado uma coletiva de imprensa na quinta-feira que o governo considera a ajuda a Israel como “sacrossanta”.
Nesta perspectiva, os interesses do cliente e do patrono não são indistinguíveis – em detrimento deste último.
Dadas as desvantagens, talvez existam outras formas menos provocativas de envolver ou mesmo conter a China. O próprio George Kennan apontou outro caminho a seguir. Escrevendo em novembro de 1996, Kennan observou com desdém o que considerava grandes porções do mundo, “abrangendo quase toda a América Latina, África e sul da Ásia, onde os governos são liderados principalmente por atitudes exploradoras em relação a nós – atitudes tão desprovidas de qualquer gratidão ou apreciação pelo que podemos dar-lhes como qualquer preocupação particular para a manutenção da nossa posição mundial. A estes, a meu ver, não devemos nada além dos ditames do nosso interesse nacional.”
Dadas as desvantagens, talvez existam outras formas menos provocativas de envolver ou mesmo conter a China.
Entusiasmando-se com o tema, Kennan examinou o caso da China – então pressionada pela administração Clinton para aderir à OMC, uma medida que posteriormente se revelou desastrosa para a classe trabalhadora americana. Na China, Kennan via “um país como a sede de uma grande cultura que merece o nosso maior respeito”.
“Gostaria”, continuou ele, “de ver-nos tratá-los no nível diplomático com a mais impecável cortesia (que eles compreenderiam), mas ter, além disso, o mínimo possível a ver com eles e, no áreas onde temos que lidar com eles, tratá-los com não menos firmeza do que eles estão acostumados a apresentar nas suas relações conosco.”
Distante, mas firme: Tudo bem. Mas será que Kennan teria pensado que seria do interesse americano tornar-se o arsenal da Ásia? Sim, devemos, por todos os meios, competir com a China, honrar acordos de defesa com aliados de longa data, como o Japão e a República da Coreia, mas ao mesmo tempo ter cuidado com provocações e compromissos desnecessários – acima de tudo, devemos evitar a suposição teleológica de que a ascensão da China será violento não está predestinado.
Precisamos de estar conscientes, como O’Brien sem dúvida está, de que os interesses da América são indistinguíveis dos interesses até dos nossos aliados mais próximos, muito menos de um país como a Indonésia, uma nação sunita maioritária a cerca de 21 mil quilómetros das nossas costas.
No final, O’Brien estabeleceu um objectivo formidável e, na verdade, louvável, de articular uma política externa de “paz através da força” para o presidente que mais uma vez espera servir. No entanto, permanecem sérias questões sobre se as políticas da China definidas por figuras como ele e Colby serão aquelas que manterão a paz na Ásia Oriental nos próximos anos.
Fonte: https://www.truthdig.com/articles/trump-national-security-advisor-wants-israel-model-for-china-policy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trump-national-security-advisor-wants-israel-model-for-china-policy